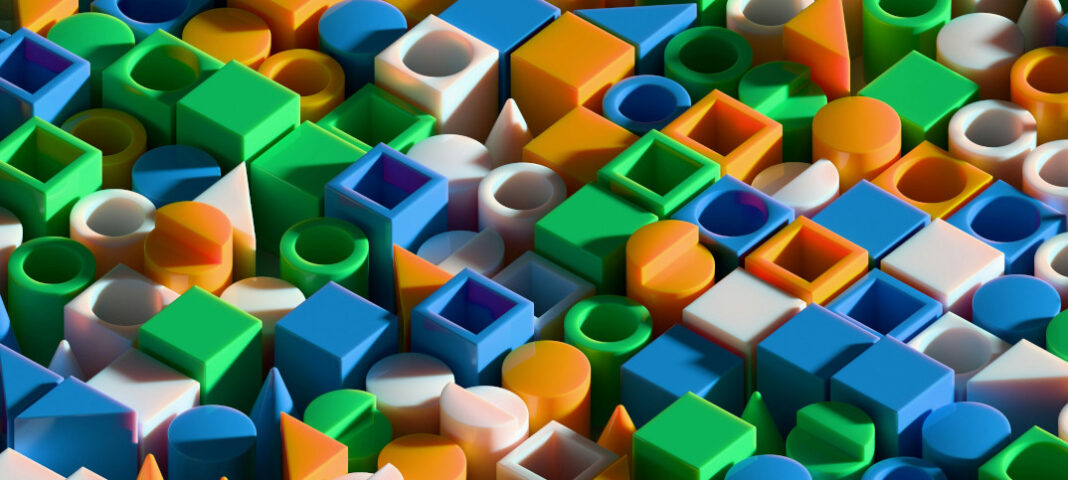Apesar de ser apresentada como um dos principais activos estratégicos das empresas, a cultura organizacional é, muitas vezes, pouco mais do que um slogan institucional. Entre os valores proclamados e os comportamentos reais, instala-se uma distância que corrói a confiança, afasta os talentos e mina o propósito
POR HELENA OLIVEIRA
Nos últimos anos, “cultura organizacional” tornou-se um dos termos mais repetidos no léxico empresarial. Está presente em brochuras de recrutamento, em murais motivacionais, em discursos de CEO, em prémios de “melhor lugar para trabalhar”. Há livros, podcasts, estudos, certificações — e uma avalanche de frases feitas sobre valores, propósito e missão. Mas quanto mais se fala de cultura, mais difícil parece defini-la ou reconhecê-la na prática.
A verdade é que a cultura se tornou um cliché corporativo — todos a mencionam, poucos a compreendem e menos ainda a cultivam de forma intencional. Multiplicam-se os discursos sobre empatia, inclusão, inovação ou bem-estar, mas é frequente que esses valores sejam contrariados pelas práticas do dia a dia: metas agressivas, estilos de liderança tóxicos, desconfiança organizacional ou ausência de coerência entre o que se diz e o que se faz.
Essa inflação discursiva não é apenas inócua: é perigosa. Quando os trabalhadores percebem a discrepância entre o discurso e a realidade, instala-se a desconfiança. O cinismo cresce. E a cultura — que poderia ser um activo colectivo — transforma-se num ornamento vazio, que todos aprendem a ignorar.
Cultura: afinal, o que é?
Segundo o relatório The Value of Authentic Organizational Culture da PwC , embora 79 % dos líderes empresariais afirmem que a cultura é “fundamental para o sucesso”, apenas 54 % dos colaboradores sentem que essa cultura se manifesta no seu dia a dia. A discrepância é ainda maior quando se trata de valores: apenas 15 % dos líderes acreditam que os colaboradores vivenciam os valores da empresa de forma inconsistente, mas 39 % dos colaboradores dizem vivê-los “raramente” ou “apenas às vezes”.
Assim, e no meio da proliferação de discursos sobre cultura organizacional, torna-se essencial perguntar: do que estamos realmente a falar? Para lá dos slogans inspiradores ou dos códigos de conduta obrigatórios, o que significa, na prática, viver uma determinada cultura dentro de uma empresa?
Edgar Schein, um dos maiores especialistas no tema, define cultura organizacional como “um padrão de pressupostos básicos partilhados que o grupo aprendeu ao enfrentar os seus problemas de adaptação externa e integração interna” — e que, por terem funcionado, são ensinados aos novos membros como a forma correcta de perceber, pensar e agir. Para Schein, a cultura opera em três níveis: os artefactos visíveis (como o design do escritório ou o vestuário), os valores declarados (aquilo que a organização diz valorizar) e os pressupostos subjacentes (as crenças reais, muitas vezes inconscientes, que moldam comportamentos).
Mais recentemente, a Deloitte simplifica essa ideia ao afirmar que cultura é, no fundo, “a forma como as coisas são feitas” numa organização. Trata-se de padrões sustentados de comportamento, reforçados por experiências partilhadas, valores comuns e sistemas de incentivo que moldam o modo como as pessoas tomam decisões, colaboram ou enfrentam o conflito
Também a PwC define cultura como um “padrão de comportamentos auto-sustentado que determina como as coisas são feitas” — reforçando a ideia de que cultura não é aquilo que se proclama, mas sim aquilo que se faz de forma sistemática, todos os dias.
É precisamente aí que reside o maior desfasamento actual: entre a cultura declarada e a cultura vivida. A primeira é visível nos valores institucionais, nas apresentações de onboarding (sessões de acolhimento e integração de novos colaboradores numa organização) ou nas redes sociais da empresa. A segunda manifesta-se na forma como as decisões são tomadas, como o erro é tratado, como os conflitos são geridos, como se promove — ou não — o equilíbrio entre vida pessoal e profissional.
Quando os dois níveis estão desalinhados, a cultura torna-se fonte de frustração. Quando o discurso não bate certo com a prática, a cultura desgasta. “Colaboração” não vale se a progressão premiar a competição. “Confiança” esvazia-se com controlo. E “propósito” sem coerência não passa de marketing.
Em última análise, cultura organizacional não é o que se escreve — é o que se tolera, o que se incentiva, o que se repete. E é por isso que a inflação de discurso sobre a mesma, sem práticas consistentes que a sustentem, acaba por gerar cansaço, cinismo e desmobilização.
Quando a cultura falha: consequências reais do desalinhamento
Quando a cultura organizacional não corresponde ao que se proclama — quando há um desfasamento entre o que se diz e o que se vive — os custos não são apenas simbólicos. São reais, mensuráveis e profundamente danosos para o bem-estar das pessoas, a coesão das equipas e o desempenho da própria organização.
Segundo o relatório The State of Global Workplace Culture 2024, publicado pela SHRM, mais de 30 % dos trabalhadores em todo o mundo relatam sintomas de burnout — uma exaustão que não é apenas pessoal, mas muitas vezes estrutural. A investigação mostra que, em ambientes com culturas frágeis ou tóxicas, os colaboradores têm o triplo da probabilidade de procurar activamente outro emprego. Em contraste, quando os trabalhadores avaliam a cultura da sua empresa como positiva, são quase quatro vezes mais propensos a querer permanecer nela
Por outro lado, a baixa motivação, o absentismo e o turnover constante são apenas algumas das manifestações desta manifestação invisível, mas devastadora.
A questão da rotatividade, em particular, é crítica. Substituir um colaborador pode custar entre 50 % a 200 % do seu salário anual, tendo em conta os custos de recrutamento, formação e perda de produtividade até a nova pessoa atingir o ritmo “normal” de trabalho. E quando a razão da saída é “não sentir alinhamento com a cultura” — uma das causas mais citadas nos inquéritos de engagement — a empresa perde mais do que talento: perde credibilidade interna.
Adicionalmente, o impacto emocional e relacional de uma cultura disfuncional é difícil de ignorar. Ambientes onde se apregoa colaboração, mas se recompensa a competitividade individual, ou onde se fala de bem-estar, mas se normaliza o excesso de carga e emails fora de horas, corroem a confiança. Os colaboradores aprendem rapidamente que os valores declarados não são guias de conduta, mas adornos retóricos. E, nesse momento, instala-se o cinismo.
Quando a cultura falha, falha também a promessa organizacional. O contracto psicológico entre colaborador e empresa é quebrado. E por mais campanhas internas ou relatórios ESG que se publiquem, o clima torna-se instável, a lealdade evapora-se e a motivação transforma-se em esforço mínimo.
Como (re)construir uma cultura autêntica
Reconstruir uma cultura organizacional coerente exige mais do que frases inspiradoras ou manuais de boas práticas. Exige intenção, consistência e, acima de tudo, comportamentos alinhados com o que se proclama. Sem isso, qualquer tentativa de mudança cultural será percebida como artificial — e por isso rejeitada.
O ponto de partida é claro: a liderança tem de dar o exemplo. Como destaca a Deloitte, são os líderes — e não os manuais — que definem a cultura no terreno. São eles que determinam o que se tolera, o que se reforça, o que se silencia. Se os comportamentos dos líderes não forem coerentes com os valores declarados, todo o edifício cultural colapsa.
Outro pilar é a transparência activa. Segundo a Harvard Business Impact, os líderes que partilham informação de forma aberta, mantêm as equipas a par das decisões e fornecem feedback regular são mais eficazes a gerar confiança e compromisso. “Partilhar informações de forma aberta e sincera, manter a equipa actualizada sobre o que está a acontecer na empresa e ao nível da liderança sénior, fornecer feedback regular e ser claro quanto à visão e às expectativas” são práticas que não exigem recursos, mas vontade de liderar com maturidade.
Já os gestores intermédios desempenham um papel determinante — muitas vezes subestimado. São eles que traduzem os valores em rotinas concretas ou, pelo contrário, os neutralizam. Como sublinha a MIT Sloan Management Review, “os líderes intermédios muitas vezes sentem que devem apenas apoiar as normas culturais existentes, em vez de as enriquecer… Mas os mais bem-sucedidos encontram formas de ligar a ‘cultura com C maiúsculo’ da sua organização — o conjunto oficial de valores — à ‘cultura com c minúsculo’ que se expressa nos padrões quotidianos, mais estreitos, mas vibrantes, de interacção”.
A criação de rituais consistentes é outro instrumento decisivo. Reuniões de alinhamento, momentos regulares de feedback, reconhecimento público de comportamentos alinhados com os valores, pausas para reflexão partilhada — tudo isso estrutura e reforça a cultura.
Por fim, a cultura só se sustenta com lideranças autênticas — aquelas que não se escondem atrás de discursos formatados, mas que agem com integridade, escutam e assumem responsabilidades. Um estudo publicado no ResearchGate em 2024 conclui que líderes autênticos têm impacto directo na construção de culturas mais inovadoras, seguras e resilientes, onde a confiança não é uma palavra bonita, mas uma prática visível.
Se as organizações quiserem evitar o declínio de confiança, a rotatividade elevada, o desgaste interno e o distanciamento dos seus talentos, precisam de abandonar o discurso vazio e apostar na cultura como estratégia e prática — não como decoração
Imagem: © Christian Boragine/Unsplash.com
Editora Executiva