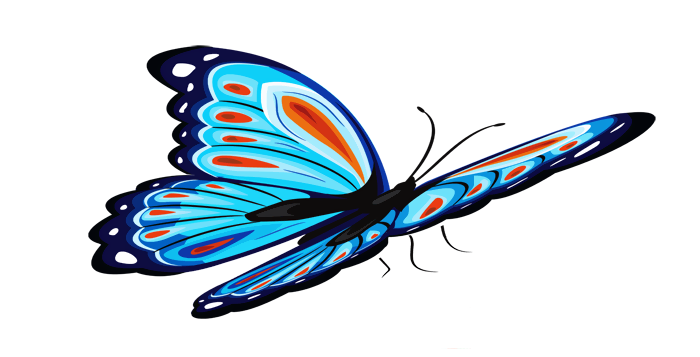|
A RSE enraizou-se irreversivelmente na comunidade empresarial. Mas muitas das suas áreas encontram-se ainda em “zona cinzenta”. O VER entrevistou o Professor Fernando Ribeiro Mendes, presidente da RSE Portugal, com quem conversou sobre as principais características, tendências e controvérsias da Responsabilidade Social das Empresas na actualidade
POR HELENA OLIVEIRA
 “Nascida” essencialmente desde a criação do Livro Verde intitulado “Promover um quadro europeu para a responsabilidade social das empresas”, em Julho de 2001, pela mão da Comissão Europeia, a Responsabilidade Social das Empresas já tem alguma história para contar, tendo atingido um certo patamar de maturidade. De acordo com uma pesquisa recentemente efectuada pela Economist Intelligence Unit, ficou absolutamente comprovado que a RSE está a subir no ranking das preocupações globais dos executivos. E embora nada comprove que esta é verdadeiramente uma boa ideia, por nem sempre ser executada pelos melhores motivos, na prática são muito poucos aqueles que a podem ignorar. “Nascida” essencialmente desde a criação do Livro Verde intitulado “Promover um quadro europeu para a responsabilidade social das empresas”, em Julho de 2001, pela mão da Comissão Europeia, a Responsabilidade Social das Empresas já tem alguma história para contar, tendo atingido um certo patamar de maturidade. De acordo com uma pesquisa recentemente efectuada pela Economist Intelligence Unit, ficou absolutamente comprovado que a RSE está a subir no ranking das preocupações globais dos executivos. E embora nada comprove que esta é verdadeiramente uma boa ideia, por nem sempre ser executada pelos melhores motivos, na prática são muito poucos aqueles que a podem ignorar.
Para além das fronteiras do mundo empresarial, a RSE está também a encontrar terreno fértil para crescer: multiplicam-se os think tanks e as consultoras para a área e a esfera política começa a ser cada vez mais pressionada para a introduzir nas suas agendas.
Por seu turno, as escolas de negócios não podem passar ao lado deste filão, adicionando aos seus currículos disciplinas e especializações sobre o tema. Os académicos dedicam-se, igualmente, a estudá-la nas suas várias vertentes e as livrarias começam a ter um novo nicho para explorar.
E a que se deve esta explosão quase súbita sobre a responsabilidade social que as empresas devem ter e provar? Por um número variado de razões, as empresas são cada vez mais pressionadas a protegerem a sua reputação e, por consequência, o ambiente onde estão inseridas. Por outro lado, o crescente escrutínio e pressão por parte das ONGs, a par da publicação de rankings e ratings que exigem a transparência da performance não financeira das empresas, não lhes permite dar um passo em falso.
Pelo menos aqueles que possam ser descobertos. Como afirmava Don Tapscott em 2001, as empresas estão nuas e há vários big brothers a observarem-nas continuamente. A mais recente preocupação relativamente às alterações climáticas traduziu-se também num dos mais importantes instrumentos de crescimento da indústria da RSE, obrigando as empresas a terem uma atenção especial no que respeita ao seu impacto ambiental.
Fernando Ribeiro Mendes conversou com o VER acerca das várias vertentes e paradoxos que envolvem a temática da RSE.
O termo Responsabilidade Social começa a demonstrar um “cansaço” significativo, levando as empresas a optar por outros que melhor descrevam a sua actividade de “fazer o bem”. Por outro lado, são tantas as actividades que cabem debaixo deste “chapéu” – do voluntariado nas comunidades locais, ao “tratar bem” os empregados até à ajuda dos carenciados ou mesmo salvar o planeta – que as empresas sentem uma certa dificuldade em concentrar-se. Com vasta experiência nesta área, como descreveria o estado da RSE no mundo empresarial no geral e em Portugal em particular?
Não há dúvida que existe um certo “abuso” do termo RS para cobrir todas as práticas que, no fundo, são muitas vezes aquelas que obedecem somente ao mero cumprimento da lei. Diria que, em termos de RS, atingimos já um determinado patamar. Tomando como referência o ano de 2001 e o Livro Verde da Comissão Europeia, Portugal e a Europa em geral trilharam um caminho interessante: existiu uma disseminação do conceito que, em 2001, era muito pouco assumido, o que por um lado também o tornou menos puro, mas que foi muito importante para estabilizar as duas dimensões da RS, a interna e a externa – que precisavam de equilíbrio. Porque a tendência da maioria das empresas era ter em conta apenas a dimensão externa, o que às vezes se confundia com uma mera operação de cosmética, ou de marketing de causas ou até mesmo só de marketing e, outras vezes, ficava muito próxima das práticas normais de Recursos Humanos. Embora com interpretações diferentes do essencial do Livro Verde, as empresas trilharam o seu caminho.
| “Embora com interpretações diferentes do essencial do Livro Verde, as empresas trilharam o seu caminho” |
 |
 |
E o que pensa que se vai passar daqui em diante?
Por um lado e como é normal, o grau de exigência do que é legal tende a subir, pois à medida que as próprias empresas e o discurso da sua gestão incorporam aspectos de RS, estes começam a tornar-se algo de normal na sociedade. Depois existe a necessidade de estabilizar o patamar atingido, que seguiu um determinado padrão: há um grupo de grandes empresas, em que a RS já está assumida como uma vertente da gestão, umas com práticas mais ou menos recomendáveis, mas que está adoptada e é comunicada. Ou seja, as empresas que fazem os seus relatórios sociais ou de sustentabilidade, promovem, divulgam os seus projectos, as suas experiências, participam em determinado tipo de fórum, etc. Esse núcleo de grandes empresas pertencem a um conjunto de multinacionais que exportaram para Portugal as suas boas práticas; ou são um conjunto de empresas de controlo accionista nacional oriundas do sector público, caso da PT, da ANA, dos CTT – umas ainda são do sector público, outras foram privatizadas – a EDP, a Galp, entre outras, e também algumas empresas de média dimensão com práticas excelentes – mas que não têm uma comunicação suficiente.
E depois há o mundo das PME no geral, no qual é muito difícil entrar. Não é um problema especificamente português, é europeu e mundial. Porque para haver um estratégia de desenvolvimento consequente de RSE, tem de existir um compromisso por parte da gestão de topo –o CEO tem que estar comprometido – e é necessário gente com formação que fique responsável por essa estratégia, que saiba quais os instrumentos e ferramentas que tem para usar, que tem que fazer o trabalho de marketing interno para promover a adesão, etc. Ora, tudo isto numa pequena e até média empresa é muito complicado, pois muitas vezes nem sequer existe um sector de RH formalmente organizado ou um sector de comunicação, ou seja, não está nada claro como é que se incorpora.
Então que possibilidades existem para incorporar o conceito nesse tecido empresarial?
Eu penso que a via mais segura é seguir a economia. Ou seja, estas pequenas e médias empresas estão cada vez mais integradas em sistemas de cadeia de valor e estão na órbita de grandes empresas. Por que é que temos hoje PMEs certificadas, por exemplo, no domínio da qualidade, do ambiente ou até em higiene e segurança no trabalho? Porque é uma forma de continuarem competitivas nos seus mercados junto das grandes empresas – por exemplo, a AutoEuropa impõe isso aos seus produtores de componentes automóveis – e mesmo as nacionais, como a PT, por exemplo ou a Vodafone – exigem alguma coisa ao nível da RS – seja mais próximo do nível de responsabilidade normal exigida por lei, seja já ao nível mais espontâneo.
Daí acreditar que a certificação pode jogar aí algum papel, embora eu não tenha uma posição muito optimista a esse respeito. Mas é realmente um dos temas que está em cima da mesa: se a certificação da área pode representar um papel motor ou não. O tema é controverso. Neste momento há a SA 8000 que é limitada em várias áreas e que está baseada nas convenções internacionais; há a discussão no âmbito da criação da ISO 26000, que é programática e não permite certificação; em Portugal temos uma dinâmica própria com bastante interesse, a criação de uma norma nacional que tem estado em discussão pública que terminou agora. Contudo, a certificação só terá êxito se for adoptada pelas grandes empresas, para depois ser transformada numa condição de preferência na selecção dos seus fornecedores. O Estado também poderá ter algum papel, porque os mercados públicos são importantes. Se revelarem alguma sensibilidade ao tema… o que até agora não tem ido além de alguns fracos sinais.
Porque as empresas vão aderir à certificação, como aderiram às de qualidade ou de ambiente, na medida em que isso lhes aumente a sua capacidade de captura de valor, pois de outra forma é um dispêndio inútil. Só se o mercado o valorizar, mas também é preciso que o mercado, ou seja as empresas que lhes compram serviços e de cuja cadeia de fornecimento elas fazem parte, estejam dispostas a pagar esse “prémio da Responsabilidade”. Claro que a IKEA faz isso e com certeza que vai introduzir alterações no nosso sector do mobiliário de madeiras no norte, mas não é um tema pacífico nem é um caminho perfeitamente definido.
Em finais de 2006, Michael Porter e Mark Kramer publicaram na HBR um estudo que afirmava que, quando abordada de forma estratégica, a RSE poderia fazer parte integrante da vantagem competitiva das empresas. Contudo, e apesar de qualquer empresa que se preze gritar aos sete eventos que é socialmente responsável, os autores afirmam que a esmagadora maioria das empresas “se mantém sem um enfoque correcto, apoiando projectos que não têm uma relação directa com o negócio”. Por que é tão difícil as empresas encontrarem este enfoque? Continuamos com o paradigma do “the business of business is just business” ou existem mesmo formas para a RS acrescentar valor para o negócio?
Eu penso que nas grandes empresas já não existe isso do “the business of business is just business”, ou seja, já não é muito comum essa visão tão restritiva do negócio. Penso que a visão estratégica que domina na maior parte das grandes empresas globais vai muito além disso. Primeiro porque sabem que se actuam globalmente estão vulneráveis a tudo o que se passa em qualquer periferia das suas actividades e uma Nike nunca mais será “tacanha” ou uma petrolífera ou a McDonald’s, ou seja, em todas estas empresas globais esta questão está assimilada, mesmo que não correctamente em todas elas, como uma questão do planeamento estratégico da empresa.
 |
“A certificação só terá êxito se for adoptada pelas grandes empresas, para depois ser transformada numa condição de preferência na selecção dos seus fornecedores”
|
 |
E mesmo no sector das pequenas médias empresas, existe hoje um conjunto de pequenas empresas que já nascem globais e que também não têm alternativa. Em Portugal temos casos como, por exemplo, empresas de grande valor acrescentado ao nível tecnológico, como a Bial, a Chipidea ou a YDreams, que já não startups, mas nasceram recentemente e que entraram muito rapidamente no mercado global. Ora, essa componente tem que estar presente, porque os seus clientes são outras grandes empresas que já assimilaram há muito essa vertente do ponto de vista estratégico.
Talvez Porter e Kramer tenham razão -no artigo é utilizado o esquema porteriano da cadeia de valor. E já Simon Zadeck, que apresentou também um artigo sobre a curva de aprendizagem da RSE, previa um estádio último de maturidade na aprendizagem desta matéria que é uma posição proactiva – ou seja, já não é a preocupação da vantagem competitiva ou à reacção a impulsos do meio ambiente, mas sim ter-se uma postura proactiva enquanto empresa e enquanto gestor. Há valores globais que são assumidos, de cidadania, etc, os quais são promovidos independentemente daquilo que se ganha.
Mas de que forma é que a RSE acrescenta realmente valor ao negócio, se é que o faz? O último ranking da Fortune foi obrigado a revelar uma verdade inconveniente: o progresso destas empresas em integrar a sustentabilidade nos seus negócios não demonstra qualquer ligação com a sua performance financeira. A seu ver, por que é que isto acontece?
Têm-se feito muitos estudos nos últimos anos, conheço alguns, para tentar analisar o business case da RS e não são convincentes. Muito são claramente mal feitos e facilmente contestáveis – já li várias críticas sólidas por parte de académicos – e não há um quadro claro. Portanto afirmar que quem tem boas políticas vai recolher um ganho quantificável, é muito difícil. Mas o contrário também acontece. Ou seja, as empresas que comprovadamente têm boas práticas de RS são, na verdade, as grandes empresas. Com certeza que não podemos dizer que não foram essas práticas que lhes deram sucesso, mas continuam a tê-lo.
Mas acha que existe realmente uma consciencialização por parte dos consumidores para esse tipo de empresas? Ou seja, estão os consumidores dispostos a pagar mais só porque os produtos ou serviços são provenientes de empresas com práticas responsáveis?
Eu acho que isso depende muito dos mercados, que estão hoje muito segmentados por diversos factores e um deles é esse tipo de consciência. Ou seja, há mercados onde essa questão é muito sensível. Quem quiser exportar para sectores importantes do mercado sueco, norueguês ou alemão, por exemplo, a questão tem peso. Porque se se descobre que essa empresa recorre directa ou indirectamente ao trabalho infantil ou que prejudica o ambiente, o mercado, os consumidores reagem. E esse mercado está disposto, até um certo ponto, a pagar um “prémio” de responsabilidade social. Mesmo no passado, antes de esta temática ser importante ou não tão divulgada, quando os consumidores de um determinado país se mobilizavam ou eram sensíveis a mensagens de comprar um produto nacional, isso acontecia, porque ao estarmos a comprar o produto nacional, não estávamos necessariamente a comprar o produto mais barato ou com o melhor equilíbrio qualidade/preço. Provavelmente, estávamos até a pagar um prémio porque era nacional. Portanto, esses valores nacionalistas, como os de responsabilidade e cidadania, interferem na decisão de compra de muitos consumidores em determinados mercados.
E do lado das empresas, pelo menos as que levam realmente a sério a RSE, acha que já estão preparadas para sacrificar um bom negócio em nome do que é considerado ética ou socialmente responsável?
Eu acho que estão se tiverem medo de serem apanhadas e pode não ser só pelo braço longo da lei. Serem apanhadas no sentido de serem expostas. Depende muito das práticas de denúncia, da reprovação em termos de opinião pública. O nosso país tem sido muito tolerante ou mesmo permissivo em relação a más práticas em muitas áreas, de que a corrupção é um bom exemplo. Mas também no tempo isso vai mudando. Ou seja, depende muito dos progressos gerais da cidadania. Sociedades onde a cidadania é uma vivência muito generalizada, estão muito mais dispostas a castigar, nem que seja só em termos de reputação e isso reflecte-se depois no mercado. Mas as sociedades evoluem. Há mudança. E a RSE, à medida que se torna um tema mais partilhado e difundido pela opinião pública, vai mudando comportamentos.
E não nos podemos esquecer que as empresas são adaptativas e vão incorporando a mudança comportamental dos mercados, que não são entidades abstractas, mas sim pessoas que tomam decisões. E hoje estamos a começar a assistir a uma mudança geracional importante nas empresas. A nova geração que está a chegar às posições de comando e que tem por trás outros valores, uma outra composição, de que são exemplo as mulheres que não vão continuar arredadas das posições de comando nas empresas. Os comportamentos estão mesmo a sofrer alterações.
| “Em todas as empresas globais a RS está assimilada, mesmo que não correctamente em todas elas, como uma questão do planeamento estratégico da empresa” |
 |
 |
Então está optimista?
Sim, penso que sim e por outro lado estamos na União Europeia, que não vai recuar nesses padrões. Primeiro porque as estruturas públicas são muito pressionadas pela sua opinião pública, país a país e globalmente cada vez mais e portanto impõem, legislam, etc, e, por outro lado, porque os mercados são compostos por pessoas cada vez mais instruídas e que assumem muitos valores. Não concordo nada com a ideia de que os jovens cada vez têm menos valores e que estão cada vez mais desligados. O que eu acho é que os jovens deixaram de se identificar com as gerações mais velhas. Por exemplo, hoje é frequente o jovem universitário, e sobretudo a jovem universitária, manifestar vontade de ir fazer voluntariado, quer em Portugal, quer no estrangeiro, em missões de cooperação. São experiências de vida, sem dúvida. Mas também são manifestações de valores.
Há pouco estávamos a falar da dificuldade de avaliar os resultados da RSE. E, por outro lado, existem cada vez mais rankings que supostamente avaliam um sem número de boas práticas. Que credibilidade considera terem esses rankings?
Em muitos casos é duvidosa. Nós sabemos que alguns desses rankings são obtidos em universos em que as empresas pagam para entrar. Mas também quero crer que alguns desses rankings são sérios. Por outro lado e do que eu tenho visto, as empresas, por seu turno, não ficam confortáveis de se confrontarem umas com outras. Ou seja, gostam de afirmar as suas boas práticas, mas não gostam muito de ser avaliadas ou comparadas. É um instrumento que eu gostaria de ver usado com, pelo menos, maior prudência. Em determinadas dimensões, há rankings que já são mais soltos, mas os rankings globais – tentar situar uma empresa globalmente em todas as suas facetas num ranking de RS agregado – acho que não faz muito sentido. Porque dificilmente haveria uma entidade suficientemente isenta e uma metodologia suficientemente consensual para tornar esses resultados credíveis e aceites por todos.
Mas por exemplo quando uma empresa é valorizada porque cria um ambiente de trabalho mais agradável, por exemplo, isso é possível medir-se de uma forma objectiva. Como por exemplo através da retenção de talentos, se tem ou não conflitualidade laboral, judicial, ou seja há indicadores que podem construir objectivos. Por outro lado, a existência de outras ferramentas como o Código de Ética, a instalação da ideia que é legítima a prática de denúncia – o denominado whistleblowing – todos eles podem ser considerados indicadores objectivos. Mas os rankings têm de ser uma ferramenta que se utilize com muita prudência.
|