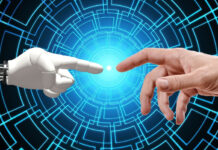BRIC é um acrónimo que se refere a uma associação de quatro grandes economias emergentes: Brasil, Rússia, Índia e China. O termo foi cunhado pelo economista Jim O’Neill em 2001 para representar estes países, percepcionados como de rápido crescimento e potencialmente influentes no cenário global. Estas nações, caracterizadas por populações muito significativas, recursos naturais e economias em expansão, foram identificadas como tendo o potencial para se tornarem algumas das economias mais dominantes do mundo no século XXI. Efectivamente, foram ganhando atenção pelo seu poder económico colectivo, influência e impacto nos assuntos mundiais
POR PEDRO COTRIM
Dez anos depois, juntou-se-lhes a África do Sul. O acrónimo passou a BRICS. Não se trata de uma associação económica, como sucede na União Europeia. A participação nas cimeiras e actividades dos BRICS permite que os países membros partilhem experiências, discutam desafios comuns e explorem potenciais colaborações para fazer avançar colectivamente os seus interesses económicos e geopolíticos. Pode ainda proporcionar aos países uma plataforma para amplificar as suas vozes no cenário global e influenciar decisões políticas e internacionais.
Em 2023, representavam 41% da população mundial. Durante a sua décima quinta cimeira em Joanesburgo, em Agosto último, os cinco membros concordaram sobre a admissão de cinco novos estados. Agora, em Janeiro de 2024, representam 46% da população do planeta e 36% do PIB global.
Graças à Arábia Saudita, aos Emirados Árabes Unidos e ao Irão, o grupo passou a contar com representantes do Golfo. A China e a Rússia foram muito favoráveis ao alargamento, em particular para contrariar a influência americana. Por seu lado, a Índia teme que o seu rival chinês ganhe demasiado poder no «Sul Global». O Brasil também teme que a sua influência se dilua num grupo muito grande. Com países recém-chegados tão diferentes como a Etiópia e o Irão, a procura de consenso nas próximas cimeiras dos BRICS+ promete ser ainda mais complexa.
Os BRIC não nasceram apenas da ilusão de uma trajectória económica comum; também surgiram contra o Ocidente. A Rússia, que reuniu os seus três parceiros em 2009 pela primeira vez em Ecaterimburgo, não fez disso qualquer segredo, e a relutância dos americanos e europeus em deixar a gestão do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial para alguns países emergentes serviu durante muito tempo como argamassa para esta coligação improvável. A recusa do Congresso americano em ratificar o acordo de 2010, que reavaliava a quota dos países emergentes no FMI, irritou fortemente Moscovo, Pequim, Nova Deli, Pretória e Brasília, a tal ponto que em 2014 os BRICS decidiram ter o seu próprio banco de desenvolvimento. Em 2015 foi criado este novo organismo, com 100 mil milhões de dólares, e o seu director, indiano, tomou posse em Xangai, a sua sede. Da mesma forma, um fundo de reserva de emergência destinado a ajudar países em dificuldades financeiras, foi inaugurado durante a cimeira dos BRICS na Rússia em 2015.
À medida que a Índia se aproxima do Ocidente, a Rússia aproximava-se do inimigo público número um de Nova Deli, o Paquistão, ao ponto da venda de helicópteros e de organizar manobras militares conjuntas. A China, tradicionalmente muito próxima do Paquistão a nível estratégico, preparou-se para investir ali a nível económico, a fim de criar um corredor até ao Oceano Índico.
Esta dinâmica distanciou ainda mais Nova Deli de Pequim e empurrou-a ainda mais para os braços dos americanos, uma vez que os líderes indianos temem agora os chineses. Desde a última cimeira dos BRICS, não só estes últimos continuaram a alimentar um medo real de cerco na Índia, aproximando-se de alguns dos seus vizinhos, como o Nepal, mas, além disso, Pequim exasperou Nova Deli, aumentando as incursões nas áreas dos Himalaias reivindicadas pela Índia, impedindo que esta última se tornasse parte interessada no Grupo de Fornecedores Nucleares (que reúne os principais estados que vendem equipamentos e tecnologias em material nuclear), e, finalmente, vetando, na ONU, a adição de um grupo armado paquistanês, Jaish-e-Mohammed, à lista das entidades terroristas.
Ainda dependente do seu aliado americano para defender a sua soberania e garantir os seus interesses estratégicos vitais num ambiente regional turbulento, a Arábia Saudita não pode reivindicar o estatuto de potência regional. Contudo, em termos relativos, o reino é hoje o actor árabe mais influente no Médio Oriente devido à situação dominante noutros países que anteriormente reivindicavam a liderança na região: na Síria e no Iraque, o estado está muito enfraquecido e a sociedade fragmentada; no Egipto, o poder do Presidente Al-Sisi está centrado na sua segurança interna e economicamente asfixiado; deve a sua sobrevivência apenas à ajuda financeira dos países do Golfo.
Das novas entradas, assoma claramente esta, da Arábia Saudita. Principal economia do mundo árabe e principal produtor de ouro negro dentro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), com 12 milhões de barris por dia em 2022, e também pilar desta organização durante quatro décadas, vê agora a sua posição ameaçada. Riade também exerce uma influência fundamental no Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), uma estrutura intergovernamental que reúne as seis monarquias da Península Arábica (Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Omã e Qatar). Ao longo dos anos, adquiriu um sofisticado arsenal de armas, importadas do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos, o que lhe confere activos para se colocar na vanguarda.
A partir de 2011, a Arábia Saudita assumiu o papel de liderar a reação dos regimes da região às revoltas árabes, mas teve o cuidado de o fazer em nome do CCG. Os países deste organismo interagem prontamente sob a bandeira contra-revolucionária liderada por Riade. Mesmo o Qatar, anteriormente muito lesto a seguir a sua própria agenda diplomática, não se opôs. O emir Al-Thani, que sucedeu ao seu pai em Junho de 2013, é claramente favorável ao apaziguamento com Riade, enquanto o seu pai se autoproclamara porta-voz das Primaveras Árabes na Tunísia, no Egipto, na Líbia e na Síria.
Definindo o ritmo, Riade está a lançar sucessivamente duas iniciativas regionais: a primeira visa expandir o CCG às outras duas monarquias árabes, Jordânia e Marrocos. A segunda defende a transformação do CCG numa verdadeira União do Golfo, mas estes projetos falharam. Caso contrário, e com o objectivo de reforçar a viragem autoritária dos países do Golfo, Riade está a promover um acordo de segurança reforçado para facilitar a cooperação em segurança e na área judicial, mas também na defesa. A sua assinatura, em 14 de Novembro de 2012, e a sua ratificação, em janeiro de 2014, por todos os membros do Conselho, com exceção do Kuwait, conduziram ao fortalecimento das medidas restritivas em todos os países, como a proibição de expressar a mais pequena crítica aos líderes e às suas políticas.
Do lado das boas notícias para os BRICS, a sua cooperação está a progredir rapidamente, mas também com o resto do mundo em desenvolvimento, e em particular com África, apresentada mais uma vez como o seu parceiro essencial. O seu pragmatismo também permitiu a estes países contornar uma série de pontos de atrito que ameaçavam a unidade do grupo, como entre a China e a Índia, à beira do confronto no Verão passado nas suas fronteiras do Himalaia, ou entre a Rússia e a Índia sobre o Paquistão.
A arquitectura da cooperação económica – e muito mais além – é, em qualquer caso, impressionante. A cooperação financeira e monetária também se está a intensificar, com acordos em caso de tensões financeiras e a utilização de moedas nacionais para se libertarem do dólar. Acima de tudo, importa referir um conjunto de cooperações técnicas acompanhadas de grupos de trabalho no âmbito das trocas comerciais, da protecção de investimentos, ou de cooperações em domínios tão variados como o espaço, a meteorologia e outros domínios científicos.
Há também a vertente sustentável do crescimento global nos seus aspectos económicos, sociais e ambientais, com compromissos cada vez mais fortes por um mundo pós-carbónico e a favor das energias renováveis. De facto, a China e a Índia, em particular, estão a tornar-se pioneiras em novas tecnologias ambientais. Por necessidade, evidentemente, mas é um facto.
Ainda a nível económico, pode saudar-se a ênfase colocada na estabilidade e na coordenação macroeconómica internacional, porque esta provavelmente desempenhou um papel importante no amortecimento da crise relacionada com a queda dos preços das matérias-primas, incluindo em África. É também dada grande ênfase ao aumento do controlo dos fluxos financeiros transfronteiriços e à luta contra o dinheiro sujo. Na mesma linha, a luta contra a corrupção figura sempre com destaque nas declarações, por mais imperfeita que seja no terreno. Estas referências irão agradar a muitos africanos, ao mesmo tempo que fornecem argumentos àqueles que denunciam, com razão, a lentidão da luta contra os paraísos fiscais.
No domínio geopolítico, os BRICS reafirmaram o seu apego às Nações Unidas (ONU) como o quadro multilateral único para a governação global e apresentaram propostas para continuar as suas reformas, nomeadamente a expansão do conselho permanente de segurança para três dos seus membros: Índia, África do Sul e Brasil, um tema essencial desde a criação do clube, mas também a reforma do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Conselho Mundial.
Do lado das más notícias para os BRICS, o silêncio sobre certos assuntos reflecte a recusa da hegemonia chinesa na luta contra a hegemonia ocidental liderada em grande parte pelos Estados Unidos, mas também a divisão bastante clara entre duas visões de uma nova governação global e o lugar dos valores democráticos. É certo que a preparação para a cimeira permitiu à China e à Índia encontrar uma solução para o impasse do Verão passado na fronteira com o Butão, mas é apenas provisória.
Em suma, os BRICS estão agora sujeitos ao desequilíbrio fundamental entre uma nova superpotência – a China – e mais potências regionais que, em particular, não querem ser vassalos de um bloco antiamericano, o que, em última análise, é uma boa notícia: os próprios BRICS são, em última análise, multipolares.
A má notícia para, porém, é de que o bloco antiocidental também parece mais uma alternativa do tipo «irmão mais velho» para que o direito dos países seja respeitado de forma igual, mas não para os direitos políticos e civis dentro de cada país. A segurança é vista como uma luta contra «todo o terrorismo» com cooperação policial e militar que continua a fortalecer-se dentro dos BRICS da mesma forma que nos países ocidentais, sem uma palavra sobre os fundamentos de certas lutas, e, em particular, o direito dos povos à auto-determinação. É claro que se pensa nos tibetanos, nos uigures que a China está a perseguir até ao Egipto, mas também nos habitantes da Caxemira indiana, nos caucasianos na Rússia e nas tribos indígenas da Amazónia.
Os BRICS abrem o debate sobre uma globalização mais aberta, mas muitas vezes permanecem surdos às vozes da sociedade civil e dos direitos das pessoas. São agora uma realidade inevitável de um mundo que emerge do risco da unipolaridade pós-queda do Muro de Berlim. Felizmente, não é uma nova bipolaridade China-América que está a ser estabelecida, mas também não é verdadeiramente um mundo multipolar. Este ‘clube’ tem a vantagem de abrir debates e soluções alternativas sobre a nova governação global e sobre uma globalização porventura mais sustentável. Em qualquer dos casos, com mais vozes.
© Imagem: https: Kirril/pixabay
Editor