POR HELENA OLIVEIRA
Onde há fumo, há geralmente fogo. E os avisos à navegação começam a ser provenientes de vários portos. O mundo pode estar a aproximar-se de mais uma crise financeira global, como se já não bastassem as outras, e a pergunta que o VER tem vindo a colocar ao longo destes últimos anos, volta-se a impor: o que se aprendeu com a Grande Recessão de 2008?
Pois, e na verdade, não parece que muitas lições tenham sido levadas a sério. Muitas empresas testemunharam a sua própria morte, muitas economias protagonizaram uma queda abissal, demasiadas pessoas perderam os seus empregos e demasiadas vidas foram avassaladoramente abaladas. E para quê? Para que tudo se volte a repetir? A forma como se encara a economia sofreu alterações? As empresas alteraram as suas formas de organização? A ambição desmedida e o auto-interesse foram substituídos por noções de altruísmo e de bem comum?
No geral, a resposta é não. Mas também é verdade que, ao longo deste período, surgiram novos movimentos empresariais que estão a tentar redefinir – uns como mais sucesso do que outros, é certo –a forma como se fazem negócios e substituir o Homo Economicus, que continua a constituir o centro do modelo económico vigente, pelo Homo Sapiens, na medida em que quando a ganância continua a ser dominante, os resultados acabam por ser os piores.
Pegando nesta ideia, uma equipa de psicólogos, biólogos e economistas – defensores da teoria da evolução darwiniana – juntaram-se, há já alguns anos, com o objectivo de formular um modelo mais “humano” mediante o qual fizesse sentido as empresas e a economia operarem.
Estes cientistas multidisciplinares, liderados pelo biólogo David Sloan Wilson, partem da premissa de que os humanos possuem instintos verdadeiramente cooperativos, os quais foram desenvolvendo ao longo de centenas de milhares de anos e enquanto trabalhavam em grupos com elevados níveis de coesão. A melhor estratégia de sobrevivência dos nossos ancestrais tinha como base a cooperação e a supressão de ganância individual e do egoísmo, os quais poderiam beneficiar o individuo, mas eram prejudiciais para o grupo no seu todo. Todas as evidências empíricas demonstram que se as condições forem as adequadas, os indivíduos trabalham muito melhor em conjunto, de forma a criarem organizações extremamente eficazes e que procuram o bem comum. O trabalho da cientista política Elinor Ostrom (falecida em 2012), que recebeu o Nobel da Economia em 2009, demonstra, por exemplo, de que forma é que muitas comunidades foram capazes de gerir recursos de forma sustentável ao longo de séculos com uma mistura adequada de incentivos pessoais e sociais.
Para estes cientistas – que publicaram um relatório no The Evolution Institute – um think tank de investigação com cariz evolucionista e que aplica os estudos teóricos que faz em várias disciplinas, como é o caso da economia – intitulado Doing Well By Doing Good, o único modelo económico viável da vida organizacional é aquele que tem o Homo Sapiens no seu centro, afirmando mesmo que “negá-lo é negar a natureza humana”. Mas e infelizmente, como também defendem, a forma como muitas empresas continuam a operar no século XXI contradizem estes importantes instintos de cooperação. Como escrevem dois dos responsáveis de um projecto contínuo que integra o think tank, denominado Evonomics, basta olhar para o recrutamento de topo no que respeita à banca ou ao sector das utilities e ficamos a saber que a esmagadora maioria dos candidatos que acabam por seleccionados tem como características que os diferenciam uma boa dose de ambição e de “gosto pelo dinheiro”. Os autores do texto introdutório ao relatório em causa recordam ainda o famoso Talent Day, prática corrente na gigantesca Enron que haveria de tombar do seu altar devido a práticas fraudulentas, nos quais eram recrutados os estudantes de MBA que maiores níveis de competição demonstravam, para nada contando as suas competências cooperativas ou normas morais. Ainda de acordo com os autores, “os bancos, as grandes empresas, e até nações inteiras provocaram a sua própria falência porque perpetuaram o interesse próprio, ao mesmo tempo que negaram os instintos sociais humanos.
Assim, a proposta teórica que consta no relatório “Doing Well By Doing Good” – que elege como premissa a eficácia da teoria dos grupos como extremamente relevante para a forma como os mesmos trabalham nas organizações -, será o tema em destaque neste artigo. Todavia, e para evidenciar a sua aplicação e dado que os autores do relatório elegeram as B Corps como um bom case study que espelha os oito princípios defendidos pelos autores do relatório (e de seguida elencados) e na medida em que estas empresas podem, realmente, ser consideradas socialmente responsáveis, um segundo artigo, nesta mesma edição, será dedicado às orientações aqui defendidas, mas já implementadas nestas organizações.
Negar a filosofia “a ganância é boa para o negócio”
A premissa de base não é, de todo, nova. O mundo dos negócios é, na generalidade, povoado por pessoas que praticam a filosofia dos benefícios da ambição, as quais são motivadas inteiramente pelo interesse próprio tipicamente conceptualizado pelo interesse monetário. A maximização do lucro para os accionistas é considerada como a única responsabilidade social de uma empresa, a qual é garantida, através da “mão invisível” como beneficiária do bem comum. Friedrich Kayek e Milton Friedman são, na maioria das vezes, apontados como os grandes defensores desta filosofia.
Os cientistas que desenvolveram o estudo em causa apontam oito princípios por excelência contrários a esta “forma de fazer negócios”, e com base na teoria da eficácia dos grupos, descrevem igualmente a importância interdisciplinar – desde a ciência política, à teoria evolucionista, à antropologia e à história e, por último, à economia e à literatura de negócios – como o “palco” certo para a análise das B Corps e de outras empresas socialmente responsáveis (v. artigo seguinte nesta newsletter).
Ciência política
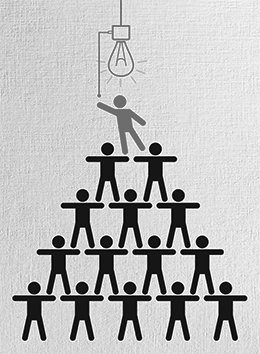 Os oito princípios definidos para a eficácia dos grupos – fronteiras claramente definidas, equivalência proporcional entre benefícios e custos, planeamento colectivo, monitorização, aplicação de sanções de acordo com uma escala, mecanismos de resolução de conflitos, reconhecimento mínimo do direito à organização, por oposição a regras impostas externamente, e relacionamentos apropriados com outros grupos – foram determinados pela já citada Elinor Ostrom, que estudou grupos em todo o mundo que tentavam gerir recursos comuns – como florestas, pastagens, pescas e sistemas de irrigação. Estes recursos são denominados “comuns” porque não são de privatização fácil e, ao invés, têm de ser partilhados e mantidos de forma cooperativa. A visão convencional pressupõe que os mesmos são vulneráveis à famosa “tragédia dos comuns” desenvolvida pelo ecologista Garrett Hardin e que a única solução reside ou numa privatização ou numa regulamentação do topo da base. Ora, Ostrom e os seus colegas demonstraram empiricamente que estes grupos são capazes de gerir sustentavelmente os seus recursos, muitas vezes ao longo de séculos, desde que operem de acordo com os oito princípios já enunciados. Em particular, quase todos os grupos aplicam, de forma positiva os três primeiros princípios, coordenando as suas acções de forma adequada, evitando comportamentos disruptivos que sirvam apenas os interesses individuais e estabelecendo relacionamentos apropriados com outros grupos.
Os oito princípios definidos para a eficácia dos grupos – fronteiras claramente definidas, equivalência proporcional entre benefícios e custos, planeamento colectivo, monitorização, aplicação de sanções de acordo com uma escala, mecanismos de resolução de conflitos, reconhecimento mínimo do direito à organização, por oposição a regras impostas externamente, e relacionamentos apropriados com outros grupos – foram determinados pela já citada Elinor Ostrom, que estudou grupos em todo o mundo que tentavam gerir recursos comuns – como florestas, pastagens, pescas e sistemas de irrigação. Estes recursos são denominados “comuns” porque não são de privatização fácil e, ao invés, têm de ser partilhados e mantidos de forma cooperativa. A visão convencional pressupõe que os mesmos são vulneráveis à famosa “tragédia dos comuns” desenvolvida pelo ecologista Garrett Hardin e que a única solução reside ou numa privatização ou numa regulamentação do topo da base. Ora, Ostrom e os seus colegas demonstraram empiricamente que estes grupos são capazes de gerir sustentavelmente os seus recursos, muitas vezes ao longo de séculos, desde que operem de acordo com os oito princípios já enunciados. Em particular, quase todos os grupos aplicam, de forma positiva os três primeiros princípios, coordenando as suas acções de forma adequada, evitando comportamentos disruptivos que sirvam apenas os interesses individuais e estabelecendo relacionamentos apropriados com outros grupos.
Teoria evolucionista
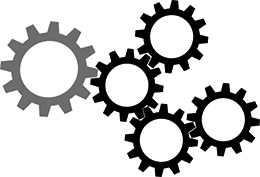 Dado que Ostrom formulou grande parte do seu trabalho tendo como base a teoria da evolução, recordamos que o processo de selecção natural resulta em organismos individuais que estão bem adaptados e aptos a sobreviverem e a reproduzirem-se no seu ambiente. Contudo, o processo não produz, de forma directa, o bom funcionamento dos grupos. A razão é que sobreviver e reproduzir-se melhor que outros membros de um grupo exige um conjunto diferente de actividades que vão mais além do que simplesmente trabalhar em conjunto para atingir objectivos comuns. Os indivíduos que se comportam como cidadãos íntegros são vulneráveis à exploração por outros indivíduos que aceitam os benefícios sociais sem partilharem os custos.
Dado que Ostrom formulou grande parte do seu trabalho tendo como base a teoria da evolução, recordamos que o processo de selecção natural resulta em organismos individuais que estão bem adaptados e aptos a sobreviverem e a reproduzirem-se no seu ambiente. Contudo, o processo não produz, de forma directa, o bom funcionamento dos grupos. A razão é que sobreviver e reproduzir-se melhor que outros membros de um grupo exige um conjunto diferente de actividades que vão mais além do que simplesmente trabalhar em conjunto para atingir objectivos comuns. Os indivíduos que se comportam como cidadãos íntegros são vulneráveis à exploração por outros indivíduos que aceitam os benefícios sociais sem partilharem os custos.
Todavia e felizmente, a selecção natural no interior dos grupos não é a única força evolucionária existente. A selecção natural opera igualmente entre grupos numa população “multi-grupal”, seleccionando comportamentos estáveis e sistemas de controlo social que reforcem esses mesmos comportamentos. E, tal como afirma um reconhecido biólogo de Harvard, Edward B. Wilson (sobre o qual o VER já escreveu), “o egoísmo bate o altruísmo no interior dos grupos, mas os grupos altruístas batem os grupos egoístas”. Ou seja, o altruísmo nesta formulação em específico é definido, de forma ampla, para incluir todas as actividades que beneficiam os membros de um grupo como um todo em detrimento do individuo. Assim, e tendo em conta o contexto, alguns dos princípios anteriormente definidos podem ser compreendidos como um conjunto de mecanismos que “abafa” o potencial para comportamentos oportunistas disruptivos no interior do grupo, para que o sucesso enquanto “um todo” seja o principal caminho a seguir. Esta supressão de comportamentos disruptivos irá aumentar a eficácia de qualquer que seja o grupo, humano ou não-humano, sendo que existem exemplos fascinantes de grupos de animais que funcionam muito bem por intermédio de comportamentos virtuosos. Estes são os casos de evolução genética, mas os mesmos princípios funcionam também para a evolução da cultura humana, na qual se inclui a evolução das instituições de acção colectiva.
Antropologia e história
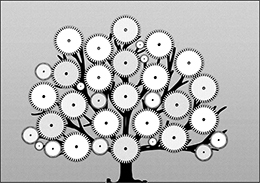 De forma singular, não só estes princípios têm lugar na organização dos grupos modernos, como também explicam os motivos devido aos quais nos tornámos uma espécie tão cooperativa desde os primórdios da humanidade. Na maioria das sociedades animais, incluindo a dos primatas, os membros do grupo cooperam até um nível determinado, apesar de, e em simultâneo, rivalizarem com aqueles que se evidenciam como “chefes” no mesmo. Ou seja, até a cooperação toma, muitas vezes, a forma de alianças que competem com outras alianças formadas no interior do mesmo grupo. Para os autores do estudo, o trabalho em equipa consiste na “assinatura” da adaptação da nossa espécie.
De forma singular, não só estes princípios têm lugar na organização dos grupos modernos, como também explicam os motivos devido aos quais nos tornámos uma espécie tão cooperativa desde os primórdios da humanidade. Na maioria das sociedades animais, incluindo a dos primatas, os membros do grupo cooperam até um nível determinado, apesar de, e em simultâneo, rivalizarem com aqueles que se evidenciam como “chefes” no mesmo. Ou seja, até a cooperação toma, muitas vezes, a forma de alianças que competem com outras alianças formadas no interior do mesmo grupo. Para os autores do estudo, o trabalho em equipa consiste na “assinatura” da adaptação da nossa espécie.
Quase todas as sociedades de caçadores-recolectores que ainda existem ou foram descritas anteriormente pelos antropólogos antes de serem assimiladas em sociedades mais alargadas exibem o trabalho em equipa reforçado pela supressão de comportamentos egoístas disruptivos. Adicionalmente, o bullying não é tolerado e o grupo, enquanto um todo, tem o poder de travar aqueles que tentam impor a sua vontade através da criação de coligações “contra-dominantes”. O status tem de ser merecido e a reputação tem como base o quanto cada um contribui para o grupo. A tomada de decisão é geralmente feita através do consenso ou por outros processos reconhecidos como justos pelo grupo. É igualmente fácil monitorizar comportamentos previamente acordados na medida em que as pessoas se encontram, geralmente, na presença umas das outras. E os conflitos de interesse são geridos também mediante uma forma que é considerada justa por todas as partes,
Todavia, todos estes princípios que funcionam bem nos grupos de pequena dimensão são mais difíceis de implementar em organizações de maior dimensão e, em particular, por duas razões. Em primeiro lugar, porque as nossas adaptações genéticas evoluíram num contexto de grupos pequenos, as quais podem entrar em ruptura em grupos de grandes dimensões. Por exemplo, não estamos equipados para manter o “rasto” de relacionamentos que sejam superiores a cerca de 100 pessoas. Em segundo lugar, alguns dos princípios enunciados, como o da monitorização, são intrinsecamente mais complicados de implementar em grupos de grande dimensão. Como resultado, quando os grupos sociais humanos começaram a aumentar a sua dimensão com o advento da agricultura, tornaram-se menos igualitários e muito mais propensos ao despotismo. Adicionalmente, as suas práticas culturais também se alteraram e aqueles que funcionavam melhor enquanto “agregados” foram os mais favorecidos pela selecção “entre-grupos “, o que acabou por conduzir às mega-sociedades relativamente igualitárias e democráticas da actualidade. Todavia, especialistas de várias áreas já documentaram que estes princípios básicos são tão relevantes para a eficácia das nações e das organizações como o são para os pequenos grupos.
Economia
 A economia surgiu como uma disciplina cerca de um século antes da teoria da evolução de Darwin. E uma escola de pensamento económico acabou por ter um domínio tão vincado que deu o nome à “economia ortodoxa” ao mesmo tempo que ofuscou as denominadas escolas “heterodoxas”, tanto em termos de pensamento, como de influência. A escola ortodoxa teve origem no século XIX com economistas como Leon Walras, que pretendia criar uma “física do comportamento social” comparável às leis do movimento protagonizadas por Newton. Tal tarefa exigia uma longa lista de pressupostos sobre as capacidades e preferências humanas, a qual viria a ser conhecida como Homo economicus. O seu trabalho exigia também uma outra longa lista de pressupostos sobre o ambiente social humano, incluindo os “mercados perfeitos” que estariam em equilíbrio (Walrus é o criador da Teoria do Equilíbrio Geral). E apesar de as suas teorias matemáticas serem incompreensíveis para a maioria das pessoas, o que é inferido a partir das suas equações é-nos familiar: as pessoas são inteiramente maximizadoras do seu próprio interesse e a busca não regulada do interesse próprio beneficia, supostamente, o bem comum. Assim, a única responsabilidade social de uma empresa é maximizar os lucros para os seus accionistas.
A economia surgiu como uma disciplina cerca de um século antes da teoria da evolução de Darwin. E uma escola de pensamento económico acabou por ter um domínio tão vincado que deu o nome à “economia ortodoxa” ao mesmo tempo que ofuscou as denominadas escolas “heterodoxas”, tanto em termos de pensamento, como de influência. A escola ortodoxa teve origem no século XIX com economistas como Leon Walras, que pretendia criar uma “física do comportamento social” comparável às leis do movimento protagonizadas por Newton. Tal tarefa exigia uma longa lista de pressupostos sobre as capacidades e preferências humanas, a qual viria a ser conhecida como Homo economicus. O seu trabalho exigia também uma outra longa lista de pressupostos sobre o ambiente social humano, incluindo os “mercados perfeitos” que estariam em equilíbrio (Walrus é o criador da Teoria do Equilíbrio Geral). E apesar de as suas teorias matemáticas serem incompreensíveis para a maioria das pessoas, o que é inferido a partir das suas equações é-nos familiar: as pessoas são inteiramente maximizadoras do seu próprio interesse e a busca não regulada do interesse próprio beneficia, supostamente, o bem comum. Assim, a única responsabilidade social de uma empresa é maximizar os lucros para os seus accionistas.
Por seu turno, as denominadas escolas de pensamento heterodoxas incluem a tradição keynesiana e as escolas mais recentes a economia evolucionária e ecológica, bem como a economia comportamental. Todavia, estes conceitos não estão devidamente integrados entre si. Por exemplo, os economistas comportamentais Richard Thaler e Cass Sunstein (sobre este último e sobre as diferentes dinâmicas de grupo o VER também já escreveu) apelam a uma economia baseada no “Homo sapiens e não no Homo economicus”, no seu famoso livro Nudge, mas até agora esta área da economia parece apenas ter conseguido demonstrar uma longa lista de resultados que são conceptualizados como anomalias e paradoxos. Por outro lado e em retrospectiva, parece óbvio – pelo menos para os autores do relatório – que se se pretende uma economia baseada no Homo sapiens, então a mesma deveria ter como base a teoria evolucionista, a qual inclui um entendimento completo da ecologia enquanto o ambiente no qual a evolução tem lugar. Nesse ponto, a economia evolucionária, ecológica e comportamental poderiam integrar-se entre si.
Algumas noções desta nova formulação teórica parecem claras, mesmo que ainda estejam num estado inicial. A busca não regulada pelo interesse próprio não beneficia, robustamente, o bem comum. Como já referido, um grupo que funciona bem tem de ter mecanismos que coordenem a sua acção, que previnam comportamentos egoístas disruptivos e que criem relações apropriadas com outros grupos. Por seu turno, as preferências humanas não se podem resumir ao interesse próprio e muito menos ao interesse próprio monetário. Ao mesmo tempo, não estamos geneticamente adaptados para a vida em grupos de grandes dimensões. Na melhor das hipóteses, somos culturalmente adaptáveis e, mesmo as nossas adaptações culturais poderão falhar em ambientes modernos em constante aceleração. Tal exige que nos tornemos “gestores inteligentes dos processos evolucionários”para resolver os problemas da existência moderna. Estes pressupostos – de acordo com os autores do estudo – e as suas implicações são bem mais favoráveis à evolução cultural das práticas de negócios sustentáveis do que a economia ortodoxa, como aliás se poderá ver no artigo que se segue a este.
A literatura de negócios
 Em 2013, o Evolution Institute, em conjunto com a Stern School of Business da Universidade de Nova Iorque, organizou uma conferência intitulada “Darwin’s Business: New Evolutionary Thinking About Cooperation , Groups, Firms, and Societies”. Um dos oradores foi o economista Herbert Gintis, que afirmou o seguinte: “A seguir à Segunda Guerra Mundial, as escolas de negócios começaram a florescer pelos Estados Unidos. Antes disso, os homens de negócios eram apenas homens de negócios. Normalmente, não frequentavam a universidade e quando o faziam, não aprendiam nada sobre negócios ou a sua gestão. Mas estas novas escolas eram muito profissionais e em economia, só se falava de economia. Ou seja, o Homo economicus pode já não ser tão popular, mas na altura era e muito. O Homo economicus não tem emoções. Está somente interessado em maximizar a sua riqueza e os seus rendimentos. Não se importa com as outras pessoas, mas importa-se com o lazer. Lazer, rendimentos e riqueza. Quando se ensinavam estes conceitos, era natural que os estudantes seguissem a premissa de que se pretendiam ser homens de negócios eficazes deveriam maximizar a sua riqueza material. A isto chama-se ganância. Ser ambicioso é humano, é algo e quanto maior a ambição, maior será o sucesso alcançado”.
Em 2013, o Evolution Institute, em conjunto com a Stern School of Business da Universidade de Nova Iorque, organizou uma conferência intitulada “Darwin’s Business: New Evolutionary Thinking About Cooperation , Groups, Firms, and Societies”. Um dos oradores foi o economista Herbert Gintis, que afirmou o seguinte: “A seguir à Segunda Guerra Mundial, as escolas de negócios começaram a florescer pelos Estados Unidos. Antes disso, os homens de negócios eram apenas homens de negócios. Normalmente, não frequentavam a universidade e quando o faziam, não aprendiam nada sobre negócios ou a sua gestão. Mas estas novas escolas eram muito profissionais e em economia, só se falava de economia. Ou seja, o Homo economicus pode já não ser tão popular, mas na altura era e muito. O Homo economicus não tem emoções. Está somente interessado em maximizar a sua riqueza e os seus rendimentos. Não se importa com as outras pessoas, mas importa-se com o lazer. Lazer, rendimentos e riqueza. Quando se ensinavam estes conceitos, era natural que os estudantes seguissem a premissa de que se pretendiam ser homens de negócios eficazes deveriam maximizar a sua riqueza material. A isto chama-se ganância. Ser ambicioso é humano, é algo e quanto maior a ambição, maior será o sucesso alcançado”.
Ou, por outras palavras, a teoria da economia ortodoxa transformou-se na visão predominante no mundo dos negócios através da influência destas escolas. Claro que hoje em dia são outras as visões que as mesmas encerram, como as que enfatizam o trabalho em equipa, os programas de ética empresarial que sugerem que afinal a ambição não é assim tão positiva, entre outras “escolas de pensamento” existentes. Mas e na verdade, a visão ortodoxa parece ser a única que se mantém em termos de fundamentos teóricos credíveis, sendo que as demais pecam por uma ausência de unidade.
Assim, o que acontece quando esta visão de que a ambição compensa é posta em prática? Algumas pessoas tornam-se absurdamente ricas, é claro. Mas também são poucas as evidências que demonstram que a visão de que a “ambição é boa” é útil para as empresas e muito menos para as economias. Basta consultarmos a fértil literatura de negócios e de gestão para facilmente concluímos que as melhores práticas de negócio fazem um trabalho muito “maior e melhor” do que a velha visão da “ganância que é boa”.
De forma não surpreendente e em retrospectiva, os grupos de negócios/empresariais são muito similares a outros grupos sociais humanos, possuindo um conjunto de objectivos (os oito princípios definidos) que apenas pode ser atingido através da acção colectiva.
A cooperação é essencial mas tem de ser protegida contra os comportamentos disruptivos de interesse próprio. Os incentivos monetários são importantes mas não podem substituir inteiramente a busca por outros incentivos sociais. Uma empresa eficaz possui um forte sentido de identidade e de propósito. As recompensas monetárias e outro tipo de incentivos são proporcionais aos contributos de cada um para o esforço do grupo. A competição entre empregados pode ser altamente motivadora e não precisa de ser disruptiva, desde que seja adequadamente “arbitrada” para que seja a melhor pessoa a “ganhar”. A tomada de decisão é suficientemente inclusiva e transparente para que os empregados saibam que as decisões são tomadas para o bem colectivo. A performance é monitorizada e os erros são abordados de forma atempada e compreensiva antes que sejam necessárias sanções mais duras. Os conflitos são também resolvidos rapidamente e de uma forma que seja considerada justa por todos.
Todavia e mesmo que uma empresa tenha aperfeiçoado a sua organização social interna, pode falhar se “habitar” um ecossistema cultural de grandes dimensões, o qual não promove as salvaguardas necessárias contra práticas de negócios sem escrúpulos.
Nota: O artigo que se segue apresenta a aplicação prática destes oito princípios para a eficácia dos grupos, tendo como palco as investigações realizadas em B Corps.
FONTE: Doing Well By Doing Good, an Evolution Institute Reporto n Socially Responsible Business – David Sloan Wilson, Thomas F. Kelly, Melvin M. Philip, Xiujian Chen
Leia também: B Corps lideram modelo de (r)evolução organizacional
Editora Executiva
































