POR HELENA OLIVEIRA
“Estes são, indubitavelmente, excelentes tempos para se ser um CEO global”. A frase remonta a Janeiro de 1998, o ano em que a PricewaterhouseCoopers publicaria o seu primeiro Global CEO Survey. Vinte anos mais tarde – e numa altura em que não está a ser poupada pelo erro no anúncio do prémio para melhor filme nos Óscares recentemente atribuídos, gaffe esta que já fez rolar pelo menos duas cabeças – a consultora aproveita a passagem de duas décadas sob este seu “marco” e, em conjunto com a 20ª edição deste relatório anualmente publicado, apresenta também um “olhar especial” sobre as funções, alterações e desafios que foram sendo colocados aos executivos líderes das maiores empresas a nível mundial (v.Caixa).
O VER resume, de seguida, as principais tendências que ilustram o universo empresarial da actualidade, estreitamente ligado, como não poderia deixar de ser, ao contexto global em que vivemos e também o que, no “interior” desta tão almejada mas igualmente complexa função de topo, se alterou mais profundamente.

Na era da suposta convergência, multiplicam-se as divergências
Alterações demográficas e climáticas, urbanização galopante, realinhamento da economia global e das actividades de negócio, escassez de recursos, crescimento célere da tecnologia. Entre outras, são estas as grandes tendências que, ao longo das últimas décadas, têm caracterizado o nosso mundo e, por inerência, a forma como as empresas e os seus líderes as têm “galopado”.
Em 20 anos, e desde a altura em que a PwC iniciou o seu inquérito anual a mais de 1000 CEOs, oriundos dos quatro cantos do planeta e representando as mais diversificadas indústrias, a globalização e a tecnologia estimularam um crescimento massivo em termos de comércio, fluxos financeiros e tráfego global online. Como declara, na introdução do 20th CEO Survey, o presidente da PwC, Bob E. Moritz, este nível de interconectividade não só aumentou o envolvimento e compromisso das empresas relativamente a todos os seus stakeholders, como forçou a sociedade a questionar de que forma as inesgotáveis fontes de informação são acedidas e consumidas.
O aumento da transparência obrigou, por seu turno, a novas formas de comunicação, a maiores níveis de responsabilidade – e responsabilização – por parte das empresas e ao despertar de novos tipos de liderança, mais assentes – se bem que não tanto quanto seria desejável – em matérias de confiança e propósito, em conjunto e de forma inerente, como relações humanas mais estreitas. Todavia, esta “enorme convergência” deu origem, e cada vez mais, a divergências igualmente substanciais, as quais parecem estar em escalada contínua.
No relatório agora publicado (referente, mais precisamente, aos inquéritos realizados a 1400 CEOs de 80 países em 2016), era já significativa a percentagem daqueles que anteviam, para o presente ano, um mundo dividido por crenças e quadros de referências múltiplos. Para além dos resultados eleitorais já mais do que dissecados – apesar de ainda muito incompreendidos – das eleições nos Estados Unidos e do referendo sobre o Brexit, os eventos mais recentes têm vindo a revelar, cada vez mais, um enorme descontentamento popular face ao cada vez mais pronunciado gap existente em termos de competências, postos de trabalho e desigualdade.
Por outro lado, e apesar de um mundo cada vez mais ligado, ou por causa disso mesmo, fatias cada vez mais “dilatadas” da sociedade expressam o seu ressentimento, sentindo-se sem voz e excluídas da tomada de decisão. E, como alerta o relatório, a liderança organizacional não escapa imune a este fenómeno, também ela afectada por uma espécie de fenómeno de “exoneração”, o qual conduz a níveis de confiança reduzidos, tanto no sector público como no privado.
Em termos de boas notícias, porque também as há, os CEOs entrevistados revelam sinais de optimismo no que respeita ao crescimento da economia, mesmo que ainda sem o dinamismo de outros tempos, sendo que a inovação parece continuar “em alta”. A procura permanece forte em muitos dos mercados emergentes, em particular na Ásia, e começa também a reerguer-se, ainda que e forma não muito expressiva, em outras regiões do planeta.
O relatório publicado em 2017 explora, em detalhe, três grandes imperativos que caracterizam o ambiente de negócios da actualidade: a gestão, complexa, não só dos trabalhadores de carne e osso mas, e de forma crescente, da emergência das máquinas enquanto potenciais e reais substitutos das forças humanas, em conjunto com todas as implicações inerentes à criação de uma força laboral “à altura” da era digital; a preservação – ou recuperação essencial – da confiança organizacional, num mundo composto por relações cada vez mais virtuais e, por último, mas sem surpresas dada a sua “continuidade”, a guerra, até aqui perdida, das forças da globalização enquanto geradoras de benefícios para todos ou, no mínimo, que os mesmos sejam, no mínimo, distribuídos de forma mais equitativa.
Vejamos os três imperativos mais em detalhe.
Homens e máquinas, o valor da intersecção inteligente
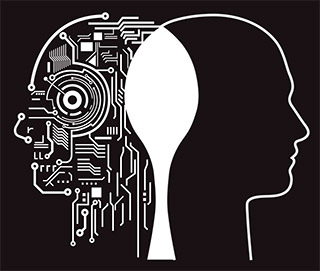 Há vinte anos, e de acordo com o CEO Report da PwC, existiam menos de 700 mil robots industriais espalhados por todo o mundo. Hoje o número ascende aos 1,8 milhões, com as estimativas a apontarem para que, em 2019, possa atingir os 2,6 milhões. Mas, e talvez ainda mais preocupante, seja o facto de os robots estarem também a invadir a arena dos serviços. Seja a impressão em 3D que já permite “fazer” carros e aviões, seja a forma como a biotecnologia está a alterar, entre variadíssimas áreas, a forma como se produz alimentos ou medicamentos, ou ainda a explosão mais recente da nanotecnologia e da inteligência artificial, que está muito mais avançada do que nos atrevemos sequer a imaginar. E, entre os benefícios e os receios, é mais do que natural que as pessoas comecem – e finalmente – a temer não só pelo futuro do seu próprio trabalho, como e principalmente, pelos eventos que esperam os seus descendentes. O relatório da PwC refere um estudo realizado já este ano, a um universo de cinco mil pessoas em 22 países, o qual revela que 79% acreditam que a tecnologia irá causar a perda de postos de trabalho nos próximos cinco anos. Todavia, e valha-nos isso, os CEOs ainda precisam de pessoas, sendo que apenas 16% do universo inquirido admite cortar o seu efectivo de funcionários nos próximos 12 meses. Adicionalmente, importa sublinhar também que apenas um quarto destes admite fazê-lo por “razões tecnológicas”. Inversamente aos receios manifestados, 52% dos CEOs respondentes planeiam admitir mais trabalhadores.
Há vinte anos, e de acordo com o CEO Report da PwC, existiam menos de 700 mil robots industriais espalhados por todo o mundo. Hoje o número ascende aos 1,8 milhões, com as estimativas a apontarem para que, em 2019, possa atingir os 2,6 milhões. Mas, e talvez ainda mais preocupante, seja o facto de os robots estarem também a invadir a arena dos serviços. Seja a impressão em 3D que já permite “fazer” carros e aviões, seja a forma como a biotecnologia está a alterar, entre variadíssimas áreas, a forma como se produz alimentos ou medicamentos, ou ainda a explosão mais recente da nanotecnologia e da inteligência artificial, que está muito mais avançada do que nos atrevemos sequer a imaginar. E, entre os benefícios e os receios, é mais do que natural que as pessoas comecem – e finalmente – a temer não só pelo futuro do seu próprio trabalho, como e principalmente, pelos eventos que esperam os seus descendentes. O relatório da PwC refere um estudo realizado já este ano, a um universo de cinco mil pessoas em 22 países, o qual revela que 79% acreditam que a tecnologia irá causar a perda de postos de trabalho nos próximos cinco anos. Todavia, e valha-nos isso, os CEOs ainda precisam de pessoas, sendo que apenas 16% do universo inquirido admite cortar o seu efectivo de funcionários nos próximos 12 meses. Adicionalmente, importa sublinhar também que apenas um quarto destes admite fazê-lo por “razões tecnológicas”. Inversamente aos receios manifestados, 52% dos CEOs respondentes planeiam admitir mais trabalhadores.
De uma forma clara, e tal como o VER tem vindo a reportar, os CEOs são inteligentes o suficiente para estimar o valor de um casamento bem-sucedido entre as maravilhas da tecnologia e as (ainda) inimitáveis competências humanas. Na medida em que estas últimas são as que não conseguem ser replicadas ou mimetizadas nas (ou pelas) máquinas, as qualidades que lhes são inerentes são precisamente as que mais estimulam a inovação – a área ilustrada no CEO Survey que mais valorizada é no que respeita ao capitalizar de novas oportunidades.
Por outro lado, e ainda no tabuleiro dos benefícios, a tecnologia (e tal como aconteceu com a disrupção provocada pela Revolução Industrial) também cria novos empregos: para as pessoas que saibam “desenhar”, monitorizar, manter e “consertar” essa(s) mesmas tecnologias; para os que trabalham nos sectores que dela beneficiam indirectamente e para os que abraçam novas versões de funções do “velho mundo”, de que são exemplo os actualmente famosos serviços de empresas que fazem corresponder as necessidades dos clientes às suas ofertas “customizadas” e que podem integrar desde serviços de transporte de passageiros (como a Uber) ou de alojamento (como a Airbnb). Todavia, e como também já aconteceu em outros momentos igualmente disruptivos da História, é exactamente a capacidade de aquisição de novas competências que mantém as pessoas seguras nos seus empregos, sendo que, e defende o relatório em causa, é a intersecção (inteligente e eficaz) entre o homem e a máquina que mais valor poderá gerar (em contraponto ao que cada “um” poderá fazer sozinho). E esse é mesmo o grande desafio: 77% dos CEOs inquiridos mostraram-se preocupados com a actual escassez de competências e, consequentemente, com o impacto negativo que esta pode ter no crescimento das empresas, sendo que são exactamente as denominadas soft skills que mais difíceis são de encontrar.
Assim, de que forma estão os CEOs a reagir a este fenómeno? Estão a promover a diversidade, a procurar mais atenta e intensamente os mais talentosos, independentemente do seu background mais “formal” e a deslocalizar os trabalhadores para os locais e funções onde estes são mais necessários. De acordo com o relatório, 75% dos inquiridos alteraram as suas estratégias de recrutamento de forma a reflectir as competências e estruturas laborais que as suas organizações irão precisar no futuro. Mas, e como também alerta o relatório, novas estratégias de recrutamento, retenção e formação de trabalhadores não serão suficientes. As organizações deverão colaborar com os governos, com instituições de ensino variadas e com os próprios trabalhadores para reformular, de forma quase radical, o sistema no interior do qual as pessoas trabalham. Terão ainda de nomear equipas de executivos que reflictam essa mesma diversidade, criar um “propósito” e uma cultura que inspire os trabalhadores e que consiga ultrapassar esta turbulenta gestão da força laboral. Ou, por outras palavras, a retenção do elemento humano num mundo crescentemente virtual será vital para o seu sucesso futuro. E principalmente numa era em que as máquinas parecem estar a tornar-se significativamente mais “humanas”.

Conectividade e confiança, ou como da gestão de dados pode depender a diferenciação
Há vinte anos e no que respeita ao radar dos negócios, a confiança não era um tema que constava da lista de prioridades dos CEOs. Na verdade, e como se escreve no relatório em causa, nem sequer fazia parte das questões integrantes do mesmo. Só a partir de 2002, e no seguimento das gigantescas fraudes que abalaram o edifício empresarial, em conjunto com a bolha das dotcom e do colapso do mercado de capitais, é que passou a ser tema em destaque. Retrospectivamente, parece inacreditável que só 12% dos CEOs considerassem que a confiança pública nas empresas dos seus respectivos países estava a acusar um enorme declínio, com apenas 29% a admitirem que as transgressões ou delitos empresariais poderiam constituir uma séria ameaça.
Desde então e como sabemos, a crise financeira acabou por a catapultar a confiança (ou a sua ausência) para as luzes da ribalta, sendo que os efeitos que se seguiram à estagnação do crescimento económico, e até hoje, continuam a contribuir para um clima generalizado de suspeição. Suspeição esta que se reflecte nas respostas dos CEOs: se em 2013, 37% dos inquiridos consideravam que a inexistência de confiança nos negócios poderia prejudicar o crescimento das suas empresas, este ano a percentagem ascendeu até uns significativos e preocupantes 58%.
Por seu turno, a tecnologia exacerbou o desafio, com 69% dos CEOs respondentes a afirmar que, num mundo crescentemente digitalizado, é cada vez mais difícil as empresas ganharem, e manterem, a confiança do público. Questionados sobre quais os riscos decorrentes da conectividade alargada que mais os preocupam, são cerca de 87% dos inquiridos que apontam os media sociais como os principais “responsáveis” por um impacto negativo nestes níveis de confiança em particular e no que respeita às suas indústrias nos próximos cinco anos. E, à medida que novas tecnologias emergem – em conjunto com novas utilizações de outras já existentes – os mesmos CEOs estão conscientes de que novos perigos estão a surgir, enquanto os “velhos” estão a tornar-se bem piores.
Particularmente preocupados com violações nos seus sistemas de segurança, a vasta maioria dos CEOs admite estar a dar alguns passos, ainda que pequenos, no sentido de acautelar vários problemas tecnologicamente possíveis, sendo aqueles que pertencem a organizações de maior dimensão os que tendem a ser mais proactivos nesta área tão sensível. Adicionalmente, dois terços consideram que a automação e a inteligência artificial representam uma (nova) ameaça, sendo perfeitamente legítima esta preocupação. É que, e na verdade, os algoritmos inerentes à automação, aos robots e às máquinas inteligentes estão a moldar, de forma inimaginável e (ainda) pouco “conhecida”, as vidas de todos nós, seja através dos websites em que navegamos, de como interagimos com os dispositivos interconectados ou da forma como a denominada “economia gig” funciona. Tudo isto dá origem a um conjunto de desafios práticos e de natureza diversificada, desde o assegurar que as máquinas recebam (e cumpram) ordens e pedidos de forma eficaz, até questões éticas que começam agora a emergir: até que ponto é aceitável influenciar as escolhas humanas ou se as pessoas responsáveis que escrevem código – ou as empresas para as quais trabalham – podem ou não ser dignas de confiança, são apenas duas delas.
Para os autores do relatório e se a quebra de confiança representa o caminho mais fácil rumo ao fracasso, a sua (re)construção pode, ao invés, constituir também a prova mais segura de um sucesso duradouro. Ou, em suma, a confiança pode ser uma oportunidade, não estando condenada a ser um risco, premissa que é reconhecida por 64% dos CEOs que defendem que da forma como as suas empresas gerirem os seus dados dependerá o seu factor de diferenciação no futuro.

Globalização, ambivalência e o difícil ponto de equilíbrio
Ao longo dos últimos 20 anos, a generalidade dos CEOs recebeu de braços abertos os impactos largamente positivos da globalização, tanto no que respeita às suas empresas como aos mercados em que operam. Mas, e em particular desde 2007, começaram a expressar algumas reservas face aos seus efeitos de curto prazo na sociedade, ambivalência esta que se tem mantido – e exacerbado – ao longo da última década. Se a maioria acredita que as forças da globalização ajudaram a liberar fluxos de capitais, pessoas, bens e informação, em conjunto com a facilitação da conectividade universal e a criação de uma força laboral com mais competências, é também significativo o número de CEOs que defende que as mesmas nada fizeram, pelo contrário, para reduzir os riscos colocados pelas alterações climáticas, para o desenvolvimento de sistemas fiscais mais justos ou, e como é gritante, para estreitar o fosso entre ricos e pobres.
Mas e se quase a totalidade dos executivos de topo entrevistados para esta edição concorda que é necessário abordar os diversos desafios sociais através do enfoque num crescimento com propósito, poucos se atrevem a dizer como. Ou, por outras palavras, o que devem os líderes fazer para tornar real uma mudança sistémica eficaz e mais justa? Acreditando que a comunidade empresarial pode ajudar a disseminar os benefícios da globalização de forma mais abrangente e que as empresas têm um papel principal no que respeita ao funcionamento dos sistemas que governam os negócios e a sociedade, o tópico da globalização continua a representar uma espécie de enigma de difícil resolução.
Se o ideal seria abordar os perigos da globalização e da tecnologia, ao mesmo tempo que se retirassem de ambas as sua inegáveis oportunidades, encontrar este ponto de equilíbrio continua a ser muito difícil. De acordo com o CEO Survey, são muitos os que declaradamente admitem travar uma batalha complexa, na medida em que não só se consideram “confusos” com a extensão devida das obrigações sociais das empresas que lideram, como o facto da existência de um crescente enfoque no valor para os accionistas tornar cada vez difícil conferir prioridade à performance de longo prazo face às exigências de resultados mais imediatos.
Em suma, e se por um lado, o papel das empresas deve centrar-se, supostamente, na produção de um planeta “melhor”, menos desigual e mais harmonioso, e se é verdade que o sector empresarial em muito contribui para criar postos de trabalho, aumentar os níveis de bem-estar das populações e oferecer produtos e serviços inovadores que contribuem para uma vida melhor, tudo isto já não é suficiente. É que na fome da colheita dos maiores benefícios da globalização e da tecnologia, o factor humano parece ter sido esquecido.
“Estes são, indubitavelmente, excelentes tempos para se ser um CEO global”, afirmava-se em 1998. Vinte anos passados, a citação poderá continuar a ser verdadeira. Ou aspiracional. Os líderes empresariais têm, sem dúvida, de repensar o paradigma existente na gestão da actualidade. E não esperarem mais duas décadas para que o ponto de equilíbrio tão necessário seja finalmente encontrado.

20 anos: o que mudou na função mais solitária do mundo?
Na sua edição especial de aniversário, a PwC publicou uma reflexão sobre as principais alterações que, nas duas últimas décadas, conferiram um novo rosto ao papel dos CEOs e das equipas que lideram. Um retrato da gestão com tonalidades variadas
Dos CEOs aos CXOs
Utilizado pela primeira vez na Harvard Business Review em 1971 – e passando a fazer parte do Oxford English Dictionary em 1972, o acrónimo para Chief Executive Officer seria, durante algum tempo, sinónimo de prestígio, mas também de solidão, face ao peso que colocava nos ombros de quem o ostentava. Com o passar dos anos, e fruto da crescente complexidade que rodeia o mundo dos negócios, o CEO foi “obrigado” a aumentar a dimensão da sua equipa de executivos de topo, numa proporção mais ou menos equivalente à também crescente responsabilidade na tomada de decisão que a função encerra. Com a obrigatoriedade de uma maior resiliência e descentralização, face ao peso da globalização e dos progressos tecnológicos, também os modelos de gestão se alteraram, dando origem a novas “funções” e a uma diversidade imprescindível nas áreas de negócio. CMOs, para o marketing, CIOs e CTOs, para as tecnologias de informação, até aos mais recentes Chief Data ou Digital Officers, são vários os “X” que podem hoje ser “integrados” no acrónimo em causa, não o substituindo, mas antes complementando-o. Do Chief Compliance Officer ou Chief Ethics Officer, porque a (falta de) ética assim obriga, ao Chief Diversity Officer, porque a igualdade assim supostamente aconselha, ao Chief Sustainability Officer, porque o planeta e as gerações futuras agradecem, o CEO parece estar menos só e mais bem acompanhado.
Do recrutamento interno à contratação de talentos “fora de casa”
A sucessão dos CEOS foi, durante largos anos, uma estratégia cuidadosamente planeada no interior das organizações. Na esmagadora maioria das vezes, o lugar mais ambicionado da empresa era “oferecido” a um executivo sénior, cuja carreira tivesse dado provas concretas não só do amor à camisola “doméstica”, mas também das suas capacidades de liderar equipas e, é claro, de obter “bons resultados”. Na actualidade, e considerada nesta reflexão como uma “disrupção”, os conselhos de administração estão a alargar horizontes, procurando candidatos externos em detrimento dos internos, para preencher as suas posições douradas. A ideia é beneficiar da experiência e competências adquiridas noutras organizações ou sectores, em conjunto com visões inovadoras e menos “viciadas” com o objectivo de levar a empresa mais longe e para além das suas próprias fronteiras. Por outro lado, os CEOs de “cabelos brancos” estão a ser substituídos por “sangue novo”, muito graças à chegada dos denominados nativos digitais ao mercado de trabalho, com visões mais consentâneas com o ambiente tecnológico vigente, mais bem preparados para lidar com os desafios da celeridade e mudança contínuos e mais despertos para a necessidade da diversidade nas suas mais variadas formas.
Editora Executiva


































