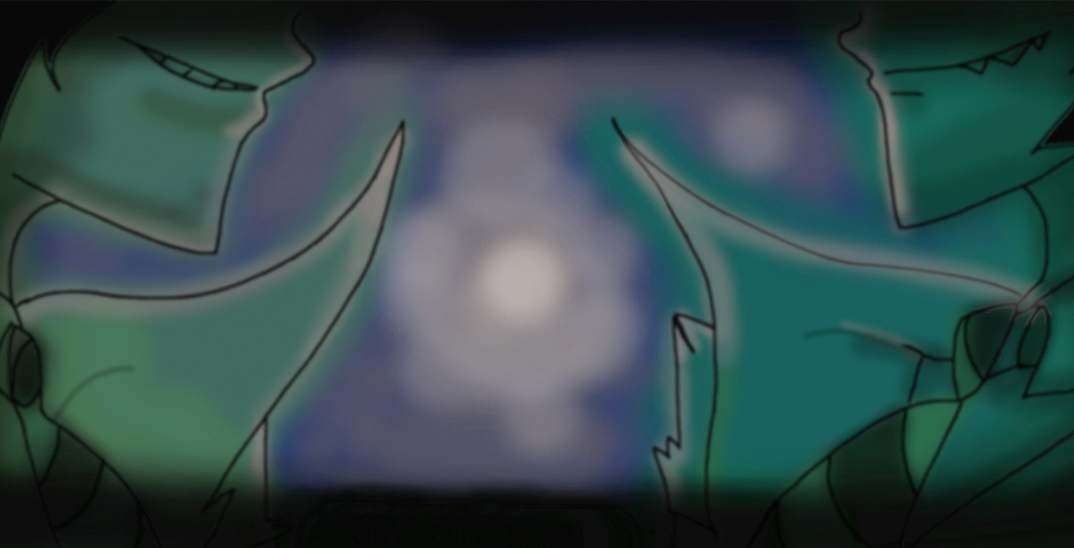POR RUTE SOUSA VASCO

Bradley Katsuyama, o herói do livro de Michael Lewis sobre trading de alta frequência, Flash Boys, é só uma pessoa normal. Uma pessoa normal transformada em extraordinária por conseguir pensar, e fazer, coisas normais numa indústria que se tornou, a vários níveis, demente. Qual é a sua história?
Katsuyama trabalhava para o Royal Bank of Canada (RBC) e, por imperativos da estratégia do banco, mudou-se de Toronto para Wall Street. Uma mudança e peras. Em Wall Street, Katsuyama sentiu que tudo estava desajustado: todos viviam acima dos seus limites, físicos, emocionais e financeiros. Quando o Royal Bank of Canada comprou a Carlin Financial, uma empresa de trading electrónico, Bradley Katsuyama, tal como num jogo, subiu de nível. O jogo tornou-se ainda mais histriónico, veloz, irracional. No primeiro dia a seguir à fusão com a Carlin Financial, recebeu o telefonema de uma colega que sussurrava ao telefone: “Está aqui um tipo de suspensórios às voltas com um taco de basebol nas mãos”. O tipo era Jeremy Frommer, CEO da Carlin Financial, e a história acabaria por demonstrar que o género está longe de ser aquele de que a indústria – financeira ou outra – precisa. Na sua normalidade, Katsuyama acabou por se tornar protagonista de uma história sobre como a tecnologia e a velocidade de transacções em milésimos de segundo foram usadas por predadores de Wall Street para ganhar dinheiro.
A indústria financeira – algo mais vasto que a banca – tornou-se o palco privilegiado de bullying. Uma espécie de recriação daquelas situações de liceu em que os miúdos valentaços das turmas intimidam outros para reforçar o seu poder. Tal como no liceu, muitos dos outros miúdos – agora todos crescidos – aceitam esses comportamentos ou fingem ignorá-los como forma de sobrevivência. E como nos últimos 30 anos a indústria financeira tomou conta do mundo – é isso que significa a expressão financeirização da economia – o modus operandi de alguns bancos e de algumas empresas financeiras tornou-se a referência (!) de sucesso para gestores em qualquer sector de economia.
Exagero? Nem por isso. Em Junho de 2013, vários antigos funcionários do Bank of America denunciaram, por exemplo, que era prática do banco incentivar os seus funcionários a mentir aos clientes, impedindo-os de submeter a aplicação para o programa governamental de apoio às famílias com dificuldade em pagar o crédito à habitação e levando-os, assim, a entregar as casas ao banco. Segundo os antigos funcionários, os seus chefes ordenavam-lhes que mentissem aos clientes, afirmando que os documentos necessários não teriam sido recebidos pelo banco. Periodicamente, estes documentos eram destruídos para que todo o processo tivesse de ser reiniciado, ganhando-se assim tempo até que os clientes deixassem de ter capacidade de continuar a pagar o crédito. Os funcionários recebiam um bónus de 500 dólares sempre que tivessem «captado» mais de dez casas por mês. (in Diário Económico, Setembro de 2013).
Não é uma história das Américas, apenas. Em Portugal usou-se, em muitas circunstâncias, o mesmo guião, com o líder do grupo a pressionar todos os outros para que se comprometessem com objectivos de crescimento, não importava a que preço. Façam o que tiverem de fazer, era a mensagem.
Olhando para o rasto de destruição de empregos e de empresas que as fraudes financeiras deixaram atrás de si nos últimos anos, é impossível não sermos compelidos a pensar que algo correu mesmo muito mal. Durante anos a fio, muitos defenderam que os fins justificavam os meios – afinal, os bancos e indústria associada apresentavam crescimentos extraordinários. Não se soube publicamente, durante algum tempo, à custa de quê, mas, para os defensores desta forma de liderar bancos e empresas, os factos esmagavam qualquer consideração moral. Era por serem assim agressivos – ou nas suas palavras, exigentes – que as coisas resultavam.
É-nos confortável pensar que este cenário é fruto da actuação de um grupo restrito de pessoas. Seria tudo mais fácil, se assim fosse – no limite, quando essas pessoas saíssem de cena, poderíamos respirar de alívio porque tudo voltaria ao normal.
Não é verdade. Não é verdade porque a ganância e o medo são pulsões básicas do ser humano e, o melhor que podemos fazer, é não perder de vista a nossa humanidade. Se queremos ser melhores pessoas, melhores gestores, melhores empresas, devemos, possivelmente, começar por aceitar o facto que estaremos sempre a lutar com a nossa humanidade – ou com as suas fragilidades. Se conseguirmos ter consciência disso como sociedade, talvez tenhamos hipóteses de, efectivamente, obter resultados verdadeiramente melhores.
A história de Bradley Katsuyama e a sua desadequação aos cenários de bullying de Wall Street traz uma mensagem de esperança. Mostra que a ganância e o medo não são insuperáveis. Mostra que nem todos os gestores e banqueiros – nem aqueles que lhes obedecem – estão sujeitos a uma lei inexorável que faz com que os supostos ‘fortes’ ganhem e os supostos ‘fracos’ percam.
A ganância é humana e a economia funciona mediante incentivos. Com uma regulação permissiva e com um sistema de incentivos chorudos (sejam bónus, sejam dividendos ou qualquer outra forma de ganhos avultados), criou-se o clima perfeito para que uma tempestade como aquela a que assistimos se abatesse sobre Estados, pessoas e empresas. A culpa é do dinheiro? Ou melhor, a culpa é só do dinheiro que tem o poder de transformar qualquer pessoa numa má pessoa?
Olhando para vários estudos produzidos por psicólogos e antropólogos, podemos concluir que, em parte, sim. O psicólogo Paul Piff considera, por exemplo, que à medida que vão subindo na escala social, os indivíduos perdem empatia e compaixão e acreditam mais nas suas capacidades e na defesa do seu próprio interesse. Além, claro, de se tornarem mais narcisistas. Perdem ou esbatem os laços que os unem à comunidade, o que explica muitos dos comportamentos a que assistimos na economia mundial.
Noutro domínio, nas neurociências, encontramos conclusões convergentes. No seu livro Hardwired Behavior – What Neuroscience Reveals about Morality, o psiquiatra Laurence Tancredi fala da biologia do dinheiro. Enquadrando a tese de Tancredi: o nosso cérebro está concebido para obter recompensas e evitar castigos. Mais: o nosso cérebro adora riscos e recompensas inesperadas. E o dinheiro activa mais circuitos neuronais do que as recompensas mais previsíveis, como obter alimentos ou água. Isto ajuda a perceber muita coisa. “Imagine que um milhão de dólares lhe caiu do céu. A sua excitação resulta da perspectiva de agir de forma a assegurar uma recompensa não previsível. Vamos imaginar que essa recompensa é obtida através de um investimento na bolsa. Pela descrição do ambiente económico, a aposta em acções é uma escolha incerta, mas a ter lugar uma recompensa, mesmo que pouco provável, traria um prazer imenso. Os receptores de dopamina tornam-se mais activos com a perspectiva do risco. Se o investimento começar por apresentar bons resultados, o cérebro ficará excitado com a ideia de mais investimentos na mesma área. Isto irá aumentar o risco, mas também a possibilidade de euforia”.
A forma como o nosso cérebro reage perante a possibilidade de ganhos financeiros aproxima-se assim, na componente biológica, da forma como se estabelece a dependência de uma droga. Quando ganha fica eufórico, quando perde a euforia dá lugar à depressão profunda. A perda financeira partilha o mesmo sistema neurológico e fisiológico que a dor física. E o nosso cérebro está, recordemo-nos, concebido não apenas de forma a obter recompensas, mas a evitar o castigo. A dor é um castigo pesado, um dos mais pesados. “A expectativa de ganhar dinheiro ou de obter qualquer recompensa em função disso leva a um comportamento motivado (ganância) que pode induzir à mentira, à fraude, ao peculato e ao desvio de activos”, conclui Tancredi no seu trabalho.
A biologia e a psicologia social explicam assim que as pessoas com mais dinheiro corram mais riscos, sejam menos sensíveis aos outros, mais narcisistas e que, com frequência, se sintam acima de qualquer escrutínio ou julgamento por terceiros. Enquanto psiquiatra, Laurence Tancredi não hesita em afirmar que, em muitas situações de insensibilidade e sentimento de impunidade levados ao extremo, é provável que algo se tenha estragado no funcionamento intelectual e emocional de quem protagoniza tais actos.
A ciência ajuda-nos a reconhecer padrões e esse conhecimento está longe de servir apenas um propósito académico ou de ser uma espécie de conclusão contemplativa ou mesmo desculpabilizante. É importante saber o que nos move para, enquanto sociedade, sabermos como limitar as pulsões destrutivas que a nossa biologia e psicologia acomoda.
As leis, de supervisão e não só, são uma das formas de actuação que servem para corrigir os excessos da ganância. Mas, tão importante quanto delimitar a ganância, é assumirmos como problema o silêncio dos inocentes. Um tema mais difícil e profundo, que começa na educação e continua vida fora nos sinais que damos uns aos outros sobre os estilos de vida e os comportamentos que premiamos. Antes de um banco ou de uma empresa provocar estragos severos, muita coisa errada aconteceu. Os líderes certamente tiveram a maior quota de responsabilidade. Mas o medo e o silêncio da maioria, permitiu, na maior parte dos casos, que tudo chegasse longe demais.
Jornalista e publisher na MadreMedia, uma empresa editorial responsável pelo SAPO24, site de informação do Portal SAPO, pelo The Next Big Idea, programa de televisão em exibição na SIC Notícias desde 2012 e por um conjunto de newsletters, podcasts e séries documentais. Autora de dois livros, “A sorte dá muito trabalho” (2012) e “Banco bom, Banco mau” (2014). Mãe do Miguel e da Margarida. Coisas que adora fazer: ler, escrever, cozinhar e discutir ideias.