POR HELENA OLIVEIRA
Qualquer CEO que se preze jura, a pés juntos, que a empresa que lidera está assente em normas e comportamentos éticos embrulhados em enormes níveis de integridade. E são muitas as empresas também que, crescentemente, estão a investir somas consideráveis de dinheiro em departamentos de compliance, na elaboração de códigos de conduta e até na formação interna dos seus colaboradores com o objectivo de as “impermeabilizar” face a possíveis falhas éticas. Todavia, são vários os estudos que sugerem que estes investimentos não fazem assim tanta diferença face ao objectivo de as pessoas “deixarem de ter maus comportamentos”. Os níveis de confiança [nas empresas] têm-se mantidos inalterados ao longo da última década, o mesmo acontecendo com os níveis observados de má conduta em 2015 face aos que grassavam em 2009, o ano em que a falta de ética – e devido à crise financeira – voltou a fazer correr rios de tinta.
Porque as empresas – e apesar da automação crescente – são compostas por humanos, têm-se multiplicado os estudos na área das ciências comportamentais, os quais tentam dar uma ajuda e explicar por que motivos as abordagens de compliance – do topo para as bases -, os códigos de conduta e os programas de formação para promover a integridade nem sempre alcançam os resultados desejáveis. Uma das razões para essa ausência de eficácia prende-se com uma realidade muito simples – todas as pessoas, por mais “boas”que sejam, fazem coisas más – mas também com uma outra: sempre que uma organização sofre algum tipo de escândalo, é possível encontrar a maçã podre, despedi-la, levá-la a tribunal, se for o caso, e seguir em frente… até ao próximo escândalo.
Ou seja, e como escrevem Jonathan Heidt, fundador da organização de pesquisa académica Ethical Systems e professor de Liderança Ética, na Universidade de Nova Iorque, e Azish Filabi, CEO da mesma, no estudo The Only Way is Ethics, a tendência é acreditar que se a maçã podre for deitada fora, o resto do cesto aproveita-se. Todavia, e de acordo com várias investigações na área da psicologia social relacionadas com esta temática, é mais importante olhar para o cesto todo – ou para a cultura organizacional – e não apenas para um possível louco, psicopata ou escroque (apesar da sua existência) como o responsável por determinadas más condutas ou faltas graves de integridade.
“Na psicologia social, existe o conceito de ‘erro de atribuição fundamental’. O mesmo refere-se ao facto de situações em que assistimos a alguma pessoa a fazer algo incomum e a nossa reacção inicial ser a de assumir, de imediato, que esse mesmo acto [errado] expressa os valores internos ou a personalidade do indivíduo (…), existindo sempre uma tendência para subestimar o poder dos factores e pressões externas”, escrevem os responsáveis pelo estudo. Ou seja, colocar a “culpa” nos actos errados de alguém sem tomar em consideração a cultura onde está inserido e os motivos que permitiram que essa falha fosse cometida consiste numa estratégia ineficaz.
E é por isso que Heidt e Filabi defendem que, se realmente pretendemos compreender as causas subjacentes ao acto de enganar ou à existência de comportamentos arriscados e não éticos no interior de organizações complexas, há que deixar para trás este “erro de atribuição” e examinar todo o “cesto” e não só a maçã podre no interior do mesmo.
Olhar para o complexo universo das questões éticas através da lente da psicologia comportamental é a principal proposta do estudo em causa, realizado em parceria com a MindGym, uma organização britânica focada na psicologia e nas ciências comportamentais que visa “transformar a forma como as pessoas sentem, pensam e se comportam” para melhorar as empresas e as vidas dos colaboradores que nelas trabalham.
Os responsáveis referem ainda que todos nós somos profundamente moldados pela cultura organizacional que nos rodeia e, muitas vezes, completamente “cegos” face às verdadeiras causas dos nossos actos. Assim, a sugestão é para que as empresas comecem a trabalhar em conjunto com a psicologia humana, de forma a adaptar os seus processos à cultura das organizações, identificando as forças sociais e os preconceitos cognitivos que nelas existem, e convencer os líderes que, mais do que na compliance, é na “própria ética” que devem apostar. Mas o que significa este enfoque e como distingui-lo das habituais abordagens de compliance eleitas pelas empresas?
O VER analisou os principais resultados deste white paper, e partilha as suas sugestões de seguida.

Custos e dividendos
Dos principais valores que habitualmente fazem parte das cartilhas empresariais, o mais comum – ou o mais destacado – é, sem dúvida, o da integridade. E, obviamente existem boas razões para que o seja.
De acordo com dados apresentados neste paper, a “má conduta” está a custar às empresas fortunas consideráveis. Na última década, vinte dos maiores bancos do mundo foram multados em cerca de 235 mil milhões de dólares devido a escândalos de pequena e grande dimensão. Por outro lado, os líderes de negócios também têm a sua quota-parte de “sofrimento”. É cada vez maior o número de coimas cobradas a nível individual e com montantes bem significativos, as sentenças de prisão efectiva estão também – e finalmente – a ser introduzidas e a crescer em termos de gravidade – por exemplo, dados de 2014 apontam para um total de 26 indivíduos, nos Estados Unidos, que foram condenados a penas de prisão devido a crimes corporativos – sendo que existem muitas fraudes que acabam por não ser noticiadas ou “descobertas”. As estimativas apontam para que, anualmente, as empresas norte-americanas percam cerca de 400 milhões de dólares em fraudes internas não detectadas, apesar de este montante poder incluir – erradamente – situações “comuns” de trabalhadores que recebem subsídios de doença quando estão mais do que saudáveis para trabalhar (facto admitido e no âmbito das investigações realizadas para este paper, por 39% dos inquiridos).
Mas e como também é sabido, o reverso da medalha também ajuda ao “business case” da importância da ética nas empresas, pois os dividendos que se retiram das que levam a ética a sério não são, de todo, para menosprezar. A boa conduta empresarial é cada vez mais um factor relevante para as escolhas dos consumidores – com cerca de metade dos entrevistados a admitir que estão dispostos a pagar o dobro por café produzido “justamente” face a um que seja de origem duvidosa e 20% a afirmar que já boicotaram um produto ou marca devido a razões éticas. A título de exemplo, o custo dos boicotes a marcas no Reino Unido ascendeu, no ano de 2015, a 2,6 mil milhões de dólares.
Por outro lado, a integridade ou a conduta ética empresarial está a ter um impacto significativo na atracção e retenção de talentos. Uma pesquisa realizada pela Deloitte demonstrou que 29% dos candidatos citam a ética empresarial como uma razão importante para se juntarem – ou não – a determinada empresa e, a partir do momento em que a integram (se for ética) tendem a ser mais produtivos, mais colaborativos e mais inovadores, com uma tendência maior para considerarem as implicações de longo prazo das suas acções.
Face a todos estes benefícios, não é surpreendente o forte investimento que o mundo empresarial está a fazer em “boa conduta”, mas a questão mantém-se: qual o retorno desta aposta?
Porque as soluções ortodoxas nem sempre funcionam

De acordo com o paper em causa, e só no sector dos serviços financeiros, 89% dos profissionais da banca afirmaram que os seus custos com programas de compliance aumentaram exponencialmente desde 2006. Muitos prevêem ainda que os mesmos irão duplicar nos próximos cinco anos [o estudo em causa analisa o ano de 2015]. Na City, o distrito financeiro de Londres, os serviços financeiros constituem também a área onde o número de pessoas contratadas mais subiu (e rapidamente), não existindo sinais de que este crescimento venha a abrandar.
Assim, e com medo de possíveis multas ou coimas e acreditando que são estes mecanismos de controlo que os resguardarão de possíveis processos judiciais, muitos CEOs estão a apostar fortemente no estabelecimento de políticas de governance claras, na publicação de códigos de conduta e na contratação de Chief Compliance Officers, o que representa um avultado investimento para as instituições que lideram. Os departamentos de comunicação também fazem parte no investimento, o mesmo acontecendo com linhas afectas de whistleblowers [delatores ou denunciantes] anónimos, formação em “dilemas éticos” e tolerância zero até mesmo para as mais pequenas transgressões. A mensagem é “estamos a levar a sério a ética e todos vocês têm de fazer o mesmo”.
Se tudo isto é correcto e desejável, qual o retorno efectivo destas organizações face aos avultados investimentos que têm vindo a ser feitos? Como já anteriormente referido, os níveis de má conduta observados nas empresas têm permanecido inalterados desde 2009, rondando os 14%, de acordo com os autores, e existe muito pouca pesquisa que sugira que as empresas se estejam a comportar de forma mais ética ou a aumentar os níveis de confiança nelas depositado.
Em 2015, e num estudo que envolveu 4600 colaboradores de várias indústrias, concluiu-se que cerca de 41% destes tinham testemunhado transgressões éticas. Destes “incidentes”, cerca de 60% foram perpetrados por gestores directos dos inquiridos e 24% pela liderança sénior. O presente paper sublinha, assim, que mesmo com as melhores das intenções, os esforços desenvolvidos em mecanismos de compliance não só não têm tido o impacto desejado como, em alguns casos, até têm contribuído para piorar a performance ética das empresas.
Para os responsáveis pelo estudo, estas mesmas organizações estão a correr o risco de serem apanhadas numa “corrida ao armamento em compliance”, o que dá origem a três perigos por excelência. O primeiro prende-se com o maior investimento feito em compliance, o qual “obriga” a empresa a desinvestir noutras áreas de extrema importância, como o estímulo ao crescimento ou o aumento da produtividade. O segundo está relacionado com o facto de este aumento explosivo de investimento estar a inflacionar o preço que todas as empresas têm de pagar para contratar profissionais qualificados em questões de compliance, o que pode encorajar pessoas talentosas a optar por este cargo ao invés de outras áreas de maior valor para as organizações. E, por último, o aumento dos procedimentos de compliance e consequente aplicação poderá estar a limitar a capacidade das empresas para serem ágeis, inovadoras e de responderem adequadamente às necessidades dos seus clientes.
Ou, o que os autores pretendem dizer é que se estas alterações em termos de compliance são desenhadas para limitar um risco , podem, ao mesmo tempo, estar a criar outros, como uma mentalidade “dentro da caixa”, a qual implica que as pessoas sigam cegamente o que é “obrigatório” sem, ao invés, pensarem de forma crítica sobre o que realmente é correcto. Daí existirem vozes crescentes que alertam para os parcos resultados e eficácia reduzida deste tipo de abordagens, clamando que as mesmas poderão estar a provocar danos na performance empresarial e no crescimento económico.
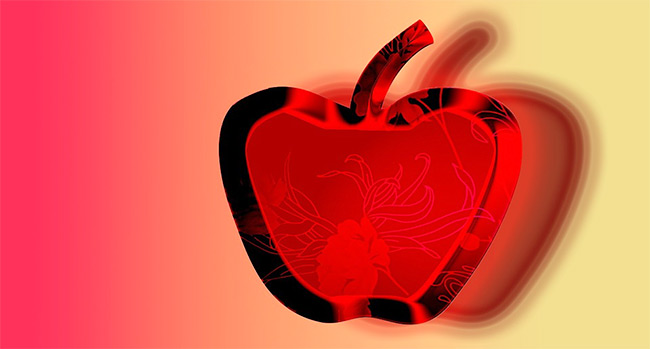
Razões psicológicas para os fracos resultados
De acordo com o paper, e apesar de existirem pessoas verdadeiras más, desonestas e com tendências psicopatas, as quais podem provocar verdadeiros danos às organizações em que trabalham – e sendo vital que sejam identificadas e extirpadas das mesmas – a percentagem de homens com estas características não chega a 1%, sendo ainda inferior no caso das mulheres. Assim, apesar de ser importante afastar a maçã podre do cesto, tal não é, de todo, suficiente. Perdas muito mais significativas são da responsabilidade dos restantes 99%, mesmo que o nível de transgressão seja mais reduzido, e é nesta esmagadora maioria que as empresas têm de se concentrar.
Já no que respeita à eficácia dos códigos de conduta e de acordo com o estudo, não existem evidências de correlação – e muito menos de causalidade – entre a publicação dos mesmos e os comportamentos éticos ou até a mera intenção de agir com maior integridade. Não negando a sua utilidade – são sempre necessário para a protecção da responsabilidade jurídica e podem, obviamente, sinalizar valores importantes, orientando e encorajando a organização a seguir normas saudáveis de comportamento – também podem, por outro lado, ser encarados como mais uma “obrigação” imposta pelo empregador, em vez de serem considerado como “o que é correcto fazer”.
A eficácia do whistleblowing (delação) é também questionada neste mesmo paper. Desde a infância que somos ensinados que “não se fazem queixinhas” e todos sabemos os inúmeros epítetos negativos associados aos que denunciam os seus pares – ou superiores. Não é assim de admirar que as empresas tenham uma enorme dificuldade em “encontrar” empregados que denunciem transgressões éticas. As duas principais razões subjacentes ao facto de a maioria das pessoas não “abrir a boca” residem no medo –poderão sofrer represálias profissionais e pessoais -, e também na “inutilidade” – ou seja, nada vai acontecer ou mudar. E se é verdade que os líderes empresariais asseguram que ninguém se deve preocupar com estas possíveis represálias, a verdade é que são estes mesmos responsáveis que introduzem linhas anónimas para estes delatores: ou seja, e se nada há a temer, porquê o anonimato? Por outro lado, ser frontal o suficiente para dizer na cara de alguém que essa pessoa está a incorrer numa transgressão ética, é ainda mais difícil. O estudo dá o exemplo do sector da saúde, onde menos de 10% dos profissionais confrontaram os colegas quando estes fizeram diagnósticos errados ou com falhas.
Quanto aos mecanismos de avaliação de risco – e à semelhança do que acontece com os questionários de satisfação dos trabalhadores – os dados deles provenientes podem ser úteis, mas também se podem transformar numa distracção e num substituto para a acção. A avaliação do risco, por si só e de acordo com os responsáveis do estudo, pouco faz para promover comportamentos éticos. No entanto, existe uma tendência crescente de as empresas se focarem neste mecanismo como a sua principal ferramenta para a mudança.
Por fim, o estudo questiona igualmente a eficácia da formação em ética. Apesar de poder ser útil, a sua falácia reside, e mais uma vez de acordo com os autores, em três grandes pressupostos: ajuda a pensar de forma lógica num determinado resultado ético; quando se aprende algo num estado “frio” ou calmo, tal afectará a forma como se responde num estado “quente” ou “desperto” e todos nós temos visões diferentes do que é certo e errado e, por causa disso, precisamos de ser “bem” orientados. O problema é que todas estas premissas são… falsas.

Mas afinal há ou não há “futuro” para uma maior ética nas organizações?
Depois de tanta censura e questionamento sobre os esforços e investimentos que as empresas estão a fazer para promoverem ambientes mais éticos, afinal qual a proposta do estudo em causa? Vejamos algumas das sugestões elencadas.
Um a um para chegar a todos. A abordagem tradicional para a mudança é, de forma generalizada, feita do topo para as bases: os líderes fazem da mudança a sua principal prioridade, funcionando como o modelo a seguir e exortando a que o seu comportamento seja adaptado por todos os demais. O pressuposto é o de que existirá um efeito-cascata para todos “imitarem” as chefias.
O problema, dizem os autores, reside no facto de esta estratégia nem sempre dar resultado. Os líderes mais seniores da empresa podem não estar dispostos a abraçar a mudança que é preconizada ou o seu “novo” comportamento pode passar despercebido. Além do mais, poderá levar muito tempo até que a cascata comportamental comece a jorrar frutos. Assim, a base mais forte para dar origem a uma ambiente mais ético – a identidade moral – é colocar o enfoque no individuo: recordar aos trabalhadores que são considerados como “boas pessoas” e demonstrar que, caso tomem decisões questionáveis, arriscam a minar a ideia que têm de si próprios e a sua própria reputação. Desta forma, é muito mais provável que as pessoas se adaptem na medida em que encaram esta premissa como do seu próprio interesse, o que constitui o maior motivador de todos.
Acreditar que o que bom para a empresa é, em primeiro lugar, bom para si próprio. Até agora, os empregados foram habituados a conviver com alguns mantras, de que são exemplo “o cliente vem primeiro” ou “a qualidade vem primeiro”. E não é fácil incutir a ideia de que “a ética vem primeiro”. Desta forma, se desejamos que as pessoas adoptem comportamentos mais éticos, é necessário encontrar-se uma melhor forma de as alertar para tal necessidade. Ou seja, para a criação de um ambiente mais ético, os trabalhadores precisam de acreditar que “fazer o que está certo” não só é positivo para a empresa, mas e sobretudo, para si mesmos. Para o bem e para o mal, a ética constitui um tópico que encerra um conjunto de emoções como a culpa, o medo, os remorsos e o orgulho. E é a abordagem a estas respostas “viscerais” que abre caminho para organizações mais íntegras.
Convencer que podemos ser sempre uma melhor versão de nós mesmos. Apesar de todos nós nos considerarmos, em geral, como “boas pessoas”, há que admitir que existem vezes em que nos afastamos do caminho “certo”. Uma forma de diminuir a possibilidade de incorrermos em alguma transgressão, é refinar a percepção de sinais prematuros de alerta para que possamos identificar potenciais “escorregadelas éticas” ou alguma “avaria” na nossa bússola moral antes que seja tarde demais e ter consciência dos resultados que poderão advir se o “bem” não for cumprido.
Para os autores, e apesar da formação em ética que tem como base a identificação de cenários de compliance ser útil para despertar a consciência para o que está errado, a mesma, por si só, não é suficiente. Desta forma, as empresas pode obter um maior retorno do seu investimento se, na formação em causa, forem analisados os seguintes tópicos: como reportar transgressões éticas sem danificar os relacionamentos com os pares; como lidar adequadamente com as injustiças ou com a exclusão (que constituem “motivos” que podem estimular comportamentos desonestos); o que fazer para “seguir a multidão” e como reagir quando nos sentimos postos de lado; apostar na auto-regulação emocional ou como nos devemos “acalmar” antes de tomar uma decisão significativa e, por fim, como gerir a nossa reputação para que a mesma se mantenha imaculada (o pensar a longo prazo conduz a comportamentos mais éticos).
Aperfeiçoar estas capacidades, afirmam os autores, não só nos ajuda a agir de forma mais ética, como nos torna mais ágeis, resilientes e emocionalmente despertos. Todos nós podemos escolher pensar e agir de forma distinta face aos que nos rodeiam, independentemente do que os outros fazem, mas é por isso mesmo que quando se deseja criar um ambiente onde todos se possam comportar eticamente, o melhor é começar por cada um, individualmente.
Na mesma medida, é muito mais difícil fazer o que está certo quando todos os outros agem incorrectamente e não são penalizados por isso. Encorajar as pessoas a responsabilizarem-se pelos seus actos é essencial, mas não é suficiente.
A importância do gestor moral. Nas nossas rotinas laborais diárias, a importância de termos um gestor ou superior hierárquico que dê o bom exemplo é crucial. E quando o próprio tem consciência desta importância, é muito mais provável que aqueles que o seguem façam o que é certo não porque lhes disseram que o devem fazer, ou porque têm receio do que lhes possa acontecer caso não o façam, mas sim porque “sentem” que essa é a única forma correcta de agir. E existem muitas formas práticas para que esse gestor consiga “dar o tom” sem parecer autoritário ou prepotente.
De acordo com o estudo, tal como a política “da porta aberta” não dá origem, necessariamente, a um maior diálogo – “é seguro dizer-me se o seu colega cometeu alguma transgressão” não estimula, de todo, uma “marcha de whistleblowers”, antes um ambiente de desconfiança propício a menor cooperação – são vários os estudos que demonstram que relembrar, simplesmente, quais as condutas morais e éticas adequadas antes de uma decisão ser tomada, serve para diminuir a tentação de se incorrer em comportamentos desonestos.
E o papel do gestor é, exactamente, o de manter “frescos” esses princípios, o que pode ser feito através de uma mera explanação das dimensões morais subjacentes a uma determinada tomada de decisão ou encorajar conversas sobre os diferentes trade-offs que vão surgindo no quotidiano laboral.
Todavia, o gestor tem de ter sensibilidade suficiente para orientar este tipo de discussões para que as pessoas não se sintam julgadas e dar espaço para que possam falar abertamente sobre possíveis tensões que possam surgir.
Um bom gestor deve sublinhar exemplos éticos positivos, o que reforça os valores da empresa e encoraja os trabalhadores a seguirem, por si mesmos e não coercivamente, o caminho da integridade.
Nota: Para aprofundar a “psicologia” que estimula a ética organizacional, faça o download do estudo para aceder às suas “sugestões” na íntegra.
Editora Executiva
































