POR HELENA OLIVEIRA
Depois de várias semanas de notícias e reportagens sobre o quão avançada está a inteligência humana, a qual foi até capaz de criar uma sua “sucedânea” artificial, mas potencialmente mais poderosa do que aquela que levou milhões de anos a ser aprimorada – a nossa – não deixa de ser uma inevitabilidade olharmos à nossa volta e questionarmos se, ao invés, a humanidade não está antes a atravessar uma crise de estupidez.
Com tantos progressos, estudos “avançados”, inovações, empresas “do futuro”, realidades mais estranhas que a própria ficção científica, novos modelos de negócio, talentos e a “geração mais bem preparada da História”, certo seria podermos afirmar que a denominada economia e/ou sociedade do conhecimento está bem e recomenda-se. Mas a verdade é que não é bem assim e os exemplos multiplicam-se todos os dias, tal como acontece com os actos mais abrangentes da estupidez humana.
O fenómeno tem vindo a ser objecto de estudo – sim, como todos – mas dois professores de comportamento organizacional em particular dedicaram uma década das suas vidas a tentar compreender por que motivo “empresas ‘espertas repletas de pessoas ‘espertas’ continuam a fazer coisas estúpidas”. A mesma questão poderá estender-se ao comportamento de muitas outras organizações, instituições – como as universidades – e até – ou sobretudo – aos próprios governos. Mats Alvesson e Andre Spicer são os autores do livro The Stupidity Paradox: The Power and Pitfalls of Functional Stupidity at Work, o qual, não sendo novo – foi publicado em Junho de 2016 – parece fazer cada vez mais sentido. E foi por isso que o VER decidiu analisar as principais teses nele elaboradas para tentar partilhar com os seus leitores esta estupidez – paradoxal – na era em que o conhecimento atingiu patamares jamais imaginados. E o resultado é o de que qualquer semelhança com a realidade não é pura coincidência. Vejamos porquê.
Há já vários anos que nos fomos habituando a ouvir – e a interiorizar – o que o pai da gestão previa em 1992 num dos seus muitos famosos artigos escritos para a Harvard Business Review: a ideia de que na (outrora) nova sociedade, “o conhecimento é o recurso primordial para os indivíduos e para a economia no geral”. Assim, e trinta anos depois de Peter Drucker ter “anunciado” esta nova era do conhecimento, continua viva, mais do que nunca, a premissa de que para sermos competitivos, temos de ser espertos (ou inteligentes), que devemos ser trabalhadores do conhecimento, a trabalhar em empresas de conhecimento intensivo, as quais, por seu turno, fazem lucrar a economia, também ela do conhecimento. Os governos gastam quantias significativas a tentar criar estas mesmas economias do conhecimento, as empresas gabam-se dos seus níveis superiores de inteligência colectiva e os indivíduos passam décadas das suas vidas a aprimorar os seus curricula vitae e a acená-los como meio caminho andado para o sucesso.
Todavia e como defendem os dois autores acima citados, este intelecto colectivo não parece ter reflexo nas muitas organizações que fizeram parte da sua pesquisa: “muito do que se passa nestas organizações foi descrito – e na maioria das vezes pelos próprios trabalhadores que as integram – como ‘estúpido”, afirmam, indo ainda mais longe e assegurando que “longe de serem de ‘conhecimento intensivo’, muitas das mais reconhecidas organizações da actualidade se transformarem em engenhos de estupidez”. E acrescentam: “testemunhámos, em inúmeras ocasiões, pessoas espertas que, ao começarem a trabalhar, simplesmente param de pensar e começam a fazer coisas estúpidas” e “começámo-nos a questionar seriamente por que motivo é que estas organizações, que realmente contratam pessoas inteligentes, poderiam encorajar tamanha estupidez”.
Depois de vários debates acesos, os autores concluíram que estas mesmas organizações espertas, com pessoas espertas portadoras de QI elevados e qualificações impressionantes, fazem coisas estúpidas porque, simplesmente, funciona – pelo menos a curto prazo. Ao evitar um pensamento criterioso, é muito mais fácil as pessoas limitarem-se simplesmente a fazer o seu trabalho, fazer muitas perguntas apenas serve para aborrecer os outros, nomeadamente as chefias, sendo ainda motivo de distracção, e nada é mais libertador do que seguir o rebanho e sentir que a ele se pertence.
Mats Alvesson e Andre Spicer concluíram ainda, e antes de deitarem mãos à sua obra (inicialmente o seu trabalho de pesquisa foi publicado num paper) que se a estupidez a curto prazo até poderia funcionar, em termos de períodos de tempo mais duradouros, a mesma criaria, inevitavelmente, problemas sérios. E foi assim que decidiram mergulhar no chamado “paradoxo da estupidez funcional” e facilmente identificável. Para tal, basta encontrar três constantes que definem as empresas que sofrem desta maleita: as pessoas não perguntam nem conferem justificações relativamente a um “trabalho em acção”, optando por utilizar expressões como “que se dane, vamos lá fazer isto”; não reflectem sobre as premissas subjacentes ao que tem de ser feito e não pensam nas implicações a longo prazo das suas acções. Se nota alguma semelhança com o que se passa na sua empresa, continue a ler este artigo. Caso contrário, continue a lê-lo na mesma porque a estupidez veste-se das mais inimagináveis roupagens.
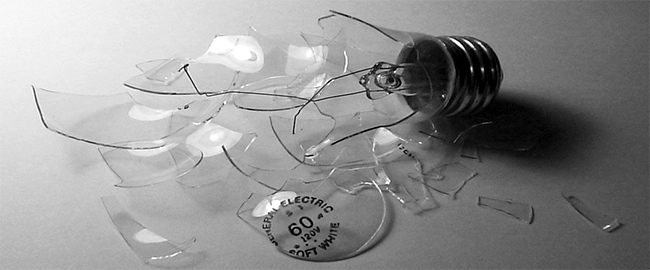
A aversão ao pensamento independente
Conhecimento, aprendizagem, talento, pensamento crítico, inovação, criatividade: todas estas palavras são mais do que comuns na literatura obrigatória das escolas de negócios, nos relatórios publicados pelas consultoras e nos discursos proferidos por políticos de todo o mundo.
Nas organizações e optando propositadamente pelos pomposos títulos em inglês que abundam já no nosso léxico nacional, existem os “chief knowledge officers”, os “cognitive engineers”, os “data alchemists” e os “innovation sherpas”. Como escrevem os autores, para encontrar um almejado lugar ao sol nas empresas de “conhecimento intensivo”, os jovens são aconselhados – auto obrigando-se – a cada vez mais anos – e dispendiosos – de educação académica e a passar por “experiências” que servem para enriquecer as suas vidas para se tornarem “talentos” contratáveis pelas empresas que os procuram. Os autores são sarcásticos o suficiente para darem como exemplo CVs de jovens que “ganham vantagem por terem construído poços no Uganda (empreendedorismo), por terem trabalhado num café em Brooklyn (gestão de serviços), por terem tirado fotocópias em bancos de investimento de Londres (analistas) e por terem ensinado crianças a fazerem ski numa qualquer estância de Inverno (liderança) ”.
[pull_quote_center]Os governos gastam quantias significativas a tentar criar estas mesmas economias do conhecimento, as empresas gabam-se dos seus níveis superiores de inteligência colectiva e os indivíduos passam décadas das suas vidas a aprimorar os seus curricula vitae e a acená-los como meio caminho andado para o sucesso[/pull_quote_center]
Perante todas estas palavras comuns mas, e para os autores, ocas de significado, o suposto enfatizar do conhecimento, da racionalidade, do talento, da inovação e da aprendizagem contínua transforma-se, em muitas organizações, num cultivar de obediência, ingenuidade, conformismo, baixos níveis de pensamento crítico e de reflexão, o que permite às mesmas, um funcionamento “suave”, na medida em que as pessoas evitam a ansiedade normalmente associada a responsabilidades mais alargadas, limitando-se a seguir o status quo habitual. A aversão ao pensamento independente é, também, uma característica destas mesmas organizações.
Para os autores, o que é ainda mais estranho não se resume ao facto de pessoas inteligentes e com elevadas qualificações se limitarem a aceitar ideias estúpidas, mas sim a triste realidade de estas ideias “funcionarem”, pelo menos a curto prazo, tanto no caminho trilhado pela própria empresa, como na forma que os indivíduos encontram para irem construindo as suas carreiras.
[pull_quote_center]Ao evitar pensar, é muito mais fácil as pessoas limitarem-se simplesmente a fazer o seu trabalho, fazer muitas perguntas apenas serve para aborrecer os outros, nomeadamente as chefias, sendo ainda motivo de distracção, e nada é mais libertador do que seguir o rebanho e sentir que a ele se pertence[/pull_quote_center]
Adicionalmente, ideias insensatas servem também para que as organizações e os indivíduos que nelas trabalham se sintam bem e projectem uma boa imagem para o exterior. Por exemplo, e a seguir à crise do subprime, muitos foram os bancos que resolveram, entusiasticamente, levar a cabo cursos de ética ou aprimorar o que denominaram como “liderança autêntica”. Os responsáveis por estas ideias que funcionam mais como “show off” – uma das características também incluídas na estupidez funcional – do que de forma efectiva – simplesmente pensaram que ao se “reconectarem” com os seus “valores interiores”, seria simples auto dotarem-se de mais ética e aumentarem a performance organizacional em simultâneo. Como exemplificam os autores, e apesar de a ideia parecer muito bonita no papel, muitos dos participantes – na sua maioria executivos sénior – consideraram a iniciativa ou como “intrusiva”ou como “uma perda de tempo”, ou ambas. O que Mats Alvesson e Andre Spicer pretendem dizer é que o facto de participarem numa iniciativa desta natureza – e em tantas outras similares – não contribui em nada para se “ganhar valores” mas para as pessoas se sentirem um pouquinho melhor consigo próprias.
Adicionalmente, acrescentam, as pessoas acabam por ser recompensadas por terem a aparência certa, os valores certos e as atitudes certas. Ou seja, os indivíduos que se recusaram a participar nestes “cursos de ética” acabaram por ser considerados como “desvios à norma” e por não se enquadrarem neste tipo de cultura organizacional repleto de boas intenções. E mesmo que os bancos, enquanto um todo, tenham beneficiado destas iniciativas – mostrando aos media, aos políticos e aos reguladores que estavam a “enfrentar o problema”, independentemente da sua eficácia, a verdade é que o objectivo final foi cumprido: não só geraram uma boa imagem para o exterior, como fizeram acreditar que os seus empregados estavam mais comprometidos com os tais valores em falta.
O “just do it” e o “tragam-me soluções e não problemas”
 Para se perceber melhor por que motivo pessoas espertas “compram” ideias absurdas, e são recompensadas por isso – os autores tiveram que analisar criteriosamente o papel principal que essa mesma estupidez integra. De acordo com a sua definição, a estupidez funcional reside na tendência de reduzir a dimensão ou a abertura do pensamento e ter apenas como enfoque os aspectos redutores e técnicos da função que se desempenha. Ou seja, há que cumprir as tarefas correctamente, mas sem reflectir no seu propósito mais alargado ou no contexto mais abrangente que as envolve: ou seja, evitar pensar demasiado sobre o que exactamente fazemos, por que é que o fazemos e nas suas eventuais implicações.
Para se perceber melhor por que motivo pessoas espertas “compram” ideias absurdas, e são recompensadas por isso – os autores tiveram que analisar criteriosamente o papel principal que essa mesma estupidez integra. De acordo com a sua definição, a estupidez funcional reside na tendência de reduzir a dimensão ou a abertura do pensamento e ter apenas como enfoque os aspectos redutores e técnicos da função que se desempenha. Ou seja, há que cumprir as tarefas correctamente, mas sem reflectir no seu propósito mais alargado ou no contexto mais abrangente que as envolve: ou seja, evitar pensar demasiado sobre o que exactamente fazemos, por que é que o fazemos e nas suas eventuais implicações.
Ao seguir esta receita simples e testada, espera-se evitar qualquer tipo de punição e preocupações que poderão advir de “comportamentos desviantes”, sendo que as organizações encorajam a estupidez funcional mediante formas variadas. Como sublinham os autores, muitas são as culturas organizacionais que enfatizam a “orientação pela acção”. O “just do it” já não é apenas o famoso slogan da Nike, tendo-se transformado na “ordem de marcha” favorita em muitas empresas, devidamente acompanhada por um outro slogan sobejamente conhecido e repetido até à exaustão: “tragam-me soluções e não problemas”. Citando o autor de The Age of Absurdity, Michael Foley, os autores concordam com a ideia de que “só nesta era de impaciência e ambição somos ‘convidados’ a viver mediante um conjunto de bullets points”.
Complementarmente, as empresas gabam-se, rotineiramente, de ser a sua marca o que a diferencia das demais, mas ao analisar-se cuidadosamente a maioria das organizações, conclui-se que quase todas fazem o mesmo. As empresas escolhem a via da cópia das suas congéneres que consideram ser bem-sucedidas, sendo que na maioria das vezes nem sequer sabem por que motivo as copiam. Quando as pessoas vivem obcecadas por receitas de sucesso e pelo “just do it”, livram-se em simultâneo do fardo – ou da responsabilidade – de serem obrigadas a considerar os motivos que as levam a agir de determinada forma, bem como das consequências dos seus actos.
Quanto às causas desta preferência fácil pela estupidez funcional, os autores identificam cinco por excelência.
[pull_quote_center]De acordo com a sua definição, a estupidez funcional reside na tendência de reduzir a dimensão ou a abertura do pensamento e ter apenas como enfoque os aspectos redutores e técnicos da função que se desempenha[/pull_quote_center]
A primeira está relacionada com uma obsessão inapropriada com a liderança. São muitas as organizações que encorajam as pessoas a pensarem em si mesmas como líderes inspiracionais. O que acontece é que este conceito acaba por alienar os seguidores, os quais são convidados a não questionar nada, sendo que estes líderes ignoram, completamente, os detalhes das funções daqueles que lideram. Alvesson e Spicer afirmam ainda que muita da “conversa” e das “esperanças” que se depositam nos líderes são pura fantasia. Se as organizações pretendem, realmente, ser bem-sucedidas, o que precisam é de menos liderança, pois e afinal de contas, poucos são os gestores que realmente lideram, na medida em que 95% do seu tempo é despendido a tratar de burocracias aborrecidas. E quando tentam realizar a tão falada “liderança inspiracional”, ficam muito aquém do que os best-sellers sobre o tema pregam e prometem.
A segunda causa identificada está relacionada com uma fixação abusiva à marca, com os profissionais de marketing a se interessarem mais por mostrarem PowerPoints impressionantes e “embelezados”, sem se darem ao trabalho de fazerem uma análise sistemática do valor intrínseco da mesma, mas antes preocupados com a imagem que projectam para o exterior, seja esta verdadeira ou não.
O terceiro “impulsionador” da estupidez funcional, e já mencionado anteriormente, é o da imitação “às cegas”, o que leva principalmente as grandes organizações a copiar as suas congéneres sem terem uma melhor razão do que o facto de “estarem na moda”, resultando em iniciativas que, simplesmente, não são apropriadas ao seu caso em particular.
Já a quarta causa está igualmente relacionada com a implementação de políticas e procedimentos que são irreflectidamente seguidos: são muitos os profissionais que passam mais tempo a colocar “cruzinhas em quadradinhos” do que a fazer o que lhes compete. Por último, muitas organizações encorajam aquilo que os autores denominam como “cultura positiva”, a qual esimula os trabalhadores a olharem apenas para o lado “bom” da empresa e a ignorar potenciais problemas.
Pensar dá muito trabalho
 Nas suas pesquisas que envolveram organizações de conhecimento intensivo tão díspares como consultoras de gestão, bancos, empresas de engenharia, farmacêuticas, universidades e governos, os dois professores de comportamento organizacional asseguram a prevalência de trabalhadores que, de acordo com a cultura vigente, são colocados em “coletes de forças mentais”.
Nas suas pesquisas que envolveram organizações de conhecimento intensivo tão díspares como consultoras de gestão, bancos, empresas de engenharia, farmacêuticas, universidades e governos, os dois professores de comportamento organizacional asseguram a prevalência de trabalhadores que, de acordo com a cultura vigente, são colocados em “coletes de forças mentais”.
Na verdade, e em particular nos países desenvolvidos, que tanto proclamam a economia do conhecimento, à maioria das pessoas são oferecidas tarefas repetitivas e serviços de baixo nível intelectual. Mesmo que uma organização se gabe de ter um conjunto alargado de capital intelectual sob a forma de elevadas competências académicas, existe e como sabemos, uma enorme probabilidade de se aterrar num trabalho no qual essas mesmas competências não servem para nada. O exemplo vai para as empresas de pesquisa em marketing: consideradas como fazendo parte das firmas de conhecimento intensivo, estas são tão também famosa por contratarem jovens com qualificações académicas elevadas que fazem apenas duas coisas: telefonar às pessoas quando estas estão a jantar colocando-lhes perguntas idiotas e mastigarem os dados produzidos (na melhor das hipóteses) pelos telefonemas que fizeram. Razão pela qual seja possível afirmar que os serviços de apoio ao cliente, ou os call centers, sejam descritos pelos seus próprios trabalhadores como “uma linha de montagem no cérebro”. E mesmo quando as pessoas se vêem num contexto onde existe alguma abertura para exercitar o seu intelecto, é comum evitarem darem-se ao trabalho de o fazer. O livro de Alvesson e Spicer cita um estudo realizado na Universidade da Virginia que concluiu que metade das pessoas testadas preferia dar pequenos choques eléctricos a si mesmos do que tentar concentrar-se e pensar num problema entre seis a 11 minutos.
Por outro lado, se são muitas as organizações que clamam ter nas suas folhas de vencimento pessoas brilhantes, inteligentes, “elevadamente educadas” e ansiosas por aprender, a infeliz realidade demonstra que as mesmas acabam por confiar, e recompensar, exactamente o seu oposto: trabalhadores que cumprem a disciplina, a ordem, que manifestem um entusiasmo “cego”, e que optam pelo conformismo, pela lealdade absoluta e por uma predisposição para serem seduzidos pelas mais ridículas ideias.
[pull_quote_center]O “just do it” já não é apenas o famoso slogan da Nike, tendo-se transformado na “ordem de marcha” favorita em muitas empresas, devidamente acompanhada por um outro slogan sobejamente conhecido e repetido até à exaustão: “tragam-me soluções e não problemas”[/pull_quote_center]
E este fenómeno tem efeitos negativos também na inovação. Todo o “hype” em torno da economia do conhecimento deu origem a um novo dogma, hoje encarado como uma verdade convencional e não questionada: “os fundamentos das economias industriais substituíram os recursos naturais pelos activos intelectuais”. Ou e por outras palavras, “em vez de trabalhadores industriais que produzem bens materiais, temos agora trabalhadores do conhecimento que criam produtos imateriais como o conhecimento, a comunicação, um relacionamento ou uma resposta emocional”.
Sem negarem que as nações, um pouco por todo o mundo, têm vindo a investir fortemente na inovação aumentando a participação na educação superior, promovendo a quantidade de pesquisa científica que produzem e melhorando o acesso às tecnologias de informação e comunicação (TIC), os autores afirmam também que, sendo estes indubitavelmente valiosos, por vezes estes investimentos acabam por se assemelhar a um tiro pela culatra. E sustentam esta “acusação”: é cada vez maior o número de pessoas que frequenta as universidades, mas os estudantes parecem aprender cada vez menos; cada vez são produzidos mais papers de investigação, mas menos “descobertas” realmente fundamentais são feitas e a tão falada disseminação e democratização do acesso às TICs parece resultar em mais partilha de fotos de gatinhos e de notícias triviais – ou falsas – do que propriamente de verdadeiro e robusto conhecimento. E talvez não seja de admirar que cada vez sejam mais as vozes que clamam que em vez de estarmos a experienciar um boom na inovação, poderemos estar, ao invés, a testemunhar um declínio.
Esta questão, sustentada pelos autores com variados exemplos de indústrias distintas, leva-os a questionar se esta economia do conhecimento não será mais uma “campanha de relações públicas” do que propriamente uma efectiva produção de conhecimento e inovação.

O efeito placebo e a guerra contra a estupidez
Voltando às organizações que se auto-denominam como de “conhecimento-intensivo”, os autores criticam o facto de, em muitos casos, as soluções oferecidas por essas mesmas firmas – sejam elas de contabilidade/auditoria, consultoria, de advogados, de especialistas de comunicação ou de tecnologias, não são muito mais do que meros placebos.
[pull_quote_center]Mesmo que uma organização se gabe de ter um conjunto alargado de capital intelectual sob a forma de elevadas competências académicas, existe e como sabemos, uma enorme probabilidade de se aterrar num trabalho no qual essas mesmas competências não servem para nada[/pull_quote_center]
Para Alvesson e Spicer, ser-se uma empresa de conhecimento intensivo pouco tem a ver com conhecimento ou especialização. O verdadeiro trabalho dessas empresas é persuadir o cliente que está a lidar com uma entidade “muito inteligente”. E pode trazer muitas mais-valias, como por exemplo um sentimento de pertença a uma comunidade de “gente conhecedora”, o que é muito mais apelativo do que fazer-se parte de uma empresa que ainda opera na “velha economia”.
Por outro lado, a “intensidade do conhecimento” pode igualmente contribuir para uma excelente imagem externa da empresa, bem como servir para “embelezar” o currículo dos que nela trabalham. Se uma empresa é vista como dotada de uma especialização em particular, tal pode ajudar a convencer os clientes que parecem estar sempre mais dispostos a pagar pelos serviços mais caros, considerando que, ao serem bem pagos, são melhor executados.
[pull_quote_center]Quando as pessoas têm medo de parecer estúpidas, acabam por ter uma maior propensão para perder oportunidades de aprendizagem[/pull_quote_center]
Os decisores e o público em geral aceitam facilmente as conclusões que lhes são oferecidas, na medida em que a “empresa prestigiada que as produziu emprega os mais conhecedores e mais brilhantes profissionais”. Para os autores, e tendo em conta as muitas organizações estudadas ao longo de mais uma década, a realidade acaba por ser bem diferente: estes mesmos relatórios são, na maioria dos casos, realizados por uma mão cheia de empregados juniores que trabalharam no “problema” do cliente durante alguns meses, com um mínimo de supervisão dos gestores seniores, na medida em que estes estão demasiado ocupados a vender os seus serviços e a interagir com os clientes. O seu envolvimento concreto neste tipo de trabalho é, em regra, muito modesto. Mais ainda, as sugestões produzidas são normalmente apresentadas como uma resposta final “autoritária” mas, nos bastidores, os próprios trabalhadores do conhecimento sentem uma enorme incerteza face ao que aconselharam. E se até podem comentar com os seus pares as dúvidas que tiveram, nunca irão admitir perante os clientes que não sabiam exactamente o que estavam a fazer ou por que motivo o fizeram.
Os autores citam também a filósofa Avital Ronell, autora da obra Stupidity, a qual argumenta, e há uns bons anos, que a o stress crescente pelo domínio do mundo através da inteligência estimula uma paranoia disseminada sobre como evitar a estupidez, ou seja, a ideia de que vivemos numa cruzada sem tréguas para demonstrar que não somos estúpidos. E fazemo-lo exactamente através da constante “sinalização” de que somos conhecedores e inteligentes. “Queremos demonstrar a toda a gente aquilo que sabemos, mas não necessariamente através do trabalho árduo necessário para cultivar o nosso conhecimento e intelecto – o que é exigente e dá trabalho -, optando antes por perseguir os vários sinais ou comprovativos de que realmente somos conhecedores, inteligentes e especializados.
E também esta guerra contra a estupidez pode ser contraproducente. Um interesse “fetichista” no conhecimento e na inteligência pode, em muitos casos, estimular a ignorância e o fraco julgamento. De acordo com os autores, décadas de pesquisa realizadas pela psicóloga Carol Dweck demonstram que quando as pessoas têm medo de parecer estúpidas, acabam por ter uma maior propensão para perder oportunidades de aprendizagem.
Assim, e segundo Alvesson e Spicer, toda esta conversa sobre economia e trabalhadores do conhecimento pode apenas ser considerada como “uma espécie de mantra entoado para dissipar qualquer suspeita que aponte para o facto da estupidez permanecer uma parte central da vida, mesmo nas mais ‘iluminadas’ das organizações”.
Editora Executiva


































Bom dia Helena Oliveira !
Fantástico artigo, que espelha a realidade das nossas sociedades.
Obrigado .
Aconselho a leitura de The Power of Stupidity de Giancarlo Livraghi (Pescara, Italia – 2009) cujo conteudo começou a ser escrito em 1996. Encontra lá isto tudo e ainda mais. Estupidamente fabuloso!
Em inglês em http://www.gandalf.it/stupid/book.htm
ou, em castelhano em http://www.gandalf.it/estupidez/index.htm
Agradecemos a sugestão. O tema é estupidamente atractivo 🙂
Comentários estão fechados.