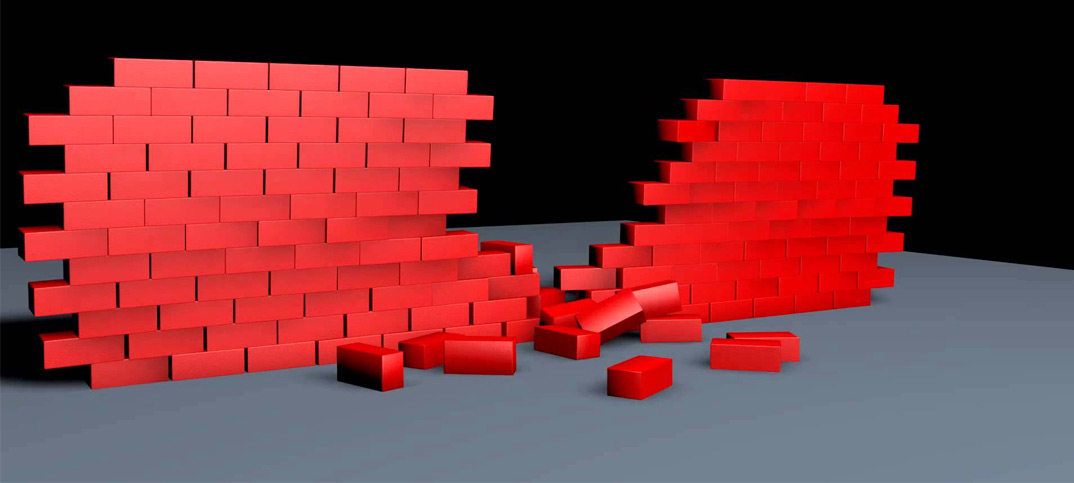POR HELENA OLIVEIRA
Apesar de vivermos num mundo tão imprevisível que é impossível saber o que vai acontecer no minuto seguinte, também conhecemos o contexto no qual o mesmo vai girando e as forças que, com alterações mais ou menos significativas, caracterizam este quase final da segunda década do século XXI. Tensões de natureza variada perturbam a sociedade onde nos movemos, o populismo crescente e o reerguer dos nacionalismos começam a fazer parte do “novo normal” e a tecnologia corre tão rápido que já é difícil afirmar se vivemos o futuro no presente ou se estamos a preparar o presente para o futuro.
Por outro lado, e neste admirável mundo novo em que nos habituámos a viver, a ausência de confiança nas instituições é também um dado adquirido, sobre o qual não perdemos tempo a reflectir. Apesar de estes índices de confiança estarem, consecutivamente, a bater mínimos históricos, não é algo que nos tire o sono. De acordo com o Edelman Trust Barometer que avalia a percepção de milhares de pessoas em dezenas de países no que respeita ao seu nível de confiança nas empresas, nos media, nos governos e nas organizações não-governamentais, em 2017 – e só para dar uma ideia do quão mal vai a nossa credibilidade no mundo que nos rodeia – em quase dois terços dos 28 países auscultados, a generalidade da sua população não acreditava que estas quatro instituições “fazem o que é certo” – sendo que a média de confiança total em todas elas estava, há um ano, abaixo dos 50%. Mas, e já com resultados frescos para o ano de 2018 e pela primeira vez, os media aparecem no topo das instituições que menos confiança geram globalmente, muito por culpa dos motores de busca e dos media sociais. Assim, seria de supor e por uma questão de lógica, que os internautas não confiam de todo nas empresas tecnológicas que dominam o ambiente digital, apesar de ser crescente o tempo em que “vivem imersos” nas mesmas.
Ora, crescentemente nas (más) notícias, também seria de supor que ao serem questionados sobre o quão confiam nos gigantes tecnológicos, a resposta fosse simples: “muito pouco” ou “nada”. Pois bem e surpresa, não é o que acontece. Contando com as notícias falsas, com as alegadas interferências em processos eleitorais, com os lucros astronómicos provenientes da partilha e/ou venda dos nossos dados pessoais, entre outros “feitos” similares com os quais pactuamos no nosso dia-a-dia, tudo indicaria para a existência de graves problemas nestes colossos digitais, acusados – e com razão – de corroer a confiança política e pública. Todavia e de acordo com uma sondagem realizada em finais de 2017 pelo The Verge, os inquiridos confiam tanto na Amazon como no seu banco, ficariam “muito preocupados” se não pudessem utilizar os serviços da Google, consideram que as notícias que circulam no Facebook são tão credíveis como as de qualquer outra fonte e “sentiriam a falta” da rede social de Mark Zuckerber caso esta desaparecesse. Adicionalmente, também a revista Wired publicou um artigo com várias sondagens que, independentemente dos vários “contratempos” que têm elevado as críticas a estas super-tecnológicas, confirmam que os níveis de confiança nas mesmas não têm sofrido alterações significativas.
Contudo, também é verdade que os alertas se estão a multiplicar no que respeita ao crescimento desmesurado do poder dos gigantes de Silicon Valley, os quais estão também sujeitos a um escrutínio cada vez mais intenso e a uma necessidade de legislação mais apertada que os possa controlar adequadamente. Mas e mesmo com os mais recentes escândalos que envolveram, nos últimos dias, o Facebook e a Uber, em domínios distintos, é certo, será que alguma coisa vai mudar?

Facebook sem vergonha e a Europa empenhada em legislar
As alegações crescentes de impropriedade e indecência em plataformas como o Facebook e o Twitter deram origem, nos últimos tempos, a um diálogo global sobre a influência e poder exercidos pelos media sociais e por outras empresas de Internet. Se as alegações começaram com a interferência da Rússia na campanha presidencial de 2016 nos Estados Unidos, o escândalo que rebentou esta semana com o Facebook e com a empresa britânica Cambridge Analytica (CA) veio acicatar ainda mais os ânimos no que respeita à utilização desbragada dos nossos dados pessoais, à capacidade desmesurada que estas plataformas têm em manipular os comportamentos dos seus utilizadores e, até agora mais grave do que tudo o resto, o poder que adquiriram para influenciar resultados eleitorais.
O tema da semana – e muito possivelmente de mais umas tantas que se seguirão – começou por ser revelado pelo jornal britânico Observer e cedo correu mundo. Em causa está a empresa britânica de análise de dados Cambridge Analytica (CA), que trabalhou com a equipa da campanha eleitoral de Donald Trump e também com a campanha vencedora do Brexit, e a recolha que fez de cerca de 50 milhões de perfis do Facebook, de eleitores dos Estado Unidos, os quais foram posteriormente utilizados para construir um poderoso programa de software capaz de prever e influenciar as escolhas de voto à boca das urnas. O Facebook ainda se tentou “safar” das suas responsabilidades, mas certo é que esta “fuga de dados” – “admitida” tardiamente pelo próprio Zuckerberg e depois de alguns dias de silêncio – já lhe custou – e no dia em que este artigo está a ser escrito, quarta-feira, 21 – a perda de cerca de 50 mil milhões de dólares do seu valor de mercado.
Os dados foram recolhidos através de um app chamada “thisisyourdigitalife”, construída por um académico da Universidade de Cambridge, Aleksandr Kogan e através da empresa deste, a Global Science Research (GSR), usados pela CA, que pagou a milhares de utilizadores para fazerem testes de personalidade – a cerca de 270 mil – que concordaram com a “utilização académica” dos mesmos. Mas e como também já se sabe, a aplicação acabaria por recolher igualmente a informação dos amigos de Facebook dos utilizadores que se tinham prestado a responder aos testes em causa, sem estes saberem e, por isso mesmo, sem o seu consentimento, o que acabaria por compor o gigantesco número de 50 milhões de perfis “roubados” à plataforma de Mark Zuckerberg – que será entretanto chamado a depor tanto no Senado dos Estado Unidos como no Parlamento Europeu – e utilizados para influenciar as opções de voto nas eleições de 2016 nos Estados Unidos. Para além das inúmeras implicações legais e políticas do caso, o Facebook tem vindo a ser fustigado pela falta de transparência que rodeia toda esta história com contornos e tentáculos de natureza variada e a famosa rede social poderá vir a sofrer consequências sérias, estando nomeadamente sujeita a punições que poderão ascender a muitos milhões de dólares.
O debate sobre o poder e a falta de ética das grandes tecnológicas não se esgota, contudo, na utilização de dados privados dos seus utilizadores, na inundação dos mesmos em “fake news” ou na manipulação dos seus comportamentos ou escolhas. Como também é sabido, o poder não regulado das plataformas de media sociais também permitiu a grupos terroristas, como o autoproclamado Estado Islâmico, aumentar significativamente as suas fileiras, o mesmo acontecendo com a explosão dos discursos de ódio ou com a disseminação de pornografia infantil.
Muito lentamente, os legisladores começam (?) a dar um ar de sua graça. Nos Estados Unidos e por exemplo, os democratas do Senado estão a trabalhar numa legislação que pretende exigir que as empresas de Internet sejam obrigadas a revelar os nomes de indivíduos ou organizações que despendam mais de 10 mil dólares em anúncios relacionados com eleições. Em França, o presidente Emmanuel Macron tem vindo a liderar os apelos para fechar as lacunas fiscais que têm vindo a permitir que gigantes tecnológicos dos Estados Unidos, como a Google, o Facebook ou a Apple paguem impostos “miseráveis” na Europa. Por seu turno, e para além do Regulamento Geral sobre a Protecção de Dados, que entrará em vigor a 25 de Maio de 2018, em todo o espaço europeu, reformulando artigos do regulamento actual e introduzindo novas regras e obrigações a cumprir, a Comissão Europeia está igualmente a “pedir” às empresas de Internet que dêem passos em frente no que respeita à remoção de conteúdos online ilegais tendo em vista o combate ao recrutamento de terroristas, aos discursos de ódio e à pornografia infantil.
De acordo com as previsões do Global Business Policy Council, o think tank da consultora a.T.Kearney, este escrutínio atingirá o pico em 2018 e será traduzido por propostas legislativas que “ferirão” as empresas de internet em três áreas fundamentais: na sua capacidade para influenciar a opinião pública através de publicidade (de natureza variada), no seu modelo de negócio que transforma os dados dos utilizadores numa commodity e no seu poder monopolista.
Com as recentes notícias que vieram a lume esta semana e que colocam o Facebook perante o talvez maior escândalo da sua história – e sobre o qual a procissão parece ainda ir no adro – talvez seja altura de, nos Estados Unidos e como refere também o documento da A.T. Kearney, que a secção 230 da denominada Lei da Decência nas Comunicações volte a estar na mira dos legisladores. Elaborada em 1996, esta lei dispensa as empresas de internet de responsabilidades na quase totalidade de conteúdos ou acções ilegais perpetrados pelos seus utilizadores, sem ter em atenção que a Internet cresceu e com ela as obrigações dos gigantes que a controlam.
Mais ainda e de regresso à Europa, a aceleração da cobrança de multas aos gigantes de Silicon Valley – que podem ser ainda maiores do que a recordista coima de 2,7 mil milhões de dólares aplicada à Google em Junho do ano passado – está também muito clara nas ambições da Comissão. Espera-se que a Comissária Europeia para a Concorrência, Margrethe Vestager, seja particularmente activa no reforço desta fiscalização, apostando numa forte cultura de controlo antes de terminar o seu mandato em 2019.
E, por último, a Comissão Europeia propôs também esta semana novas regras para garantir que as actividades empresariais digitais sejam tributadas de uma forma justa e favorável ao crescimento na UE: ou seja, taxar as empresas digitais nos locais onde estas geram receitas, ao invés de considerarem o local onde estão sedeadas, o que indicia também uma nova guerra entre os Estados Unidos e a Europa. De acordo com um comunicado de imprensa emitido pela própria Comissão, “com estas medidas, a UE tornar-se-á um líder mundial em matéria de concepção de legislação fiscal adaptada à economia moderna e à era digital”. Resta saber o que mais conseguirá fazer relativamente a outros temas menos materiais e mais éticos.

Uber sem travões e a condução autónoma sem STOP
Também nos radares do mediatismo nos últimos dias esteve a condução autónoma, assumida por muitos como uma das mais promissoras áreas da “revolução da mobilidade”. Fabricantes de automóveis, empresas de tecnologia, fornecedores de componentes e empresas como a Uber, a Tesla e a Google, por exemplo, estão a investir montantes colossais no desenvolvimento de veículos que “andam sozinhos”.E de acordo com um estudo recente realizado pela Strategy Analytics e pela Intel – um dos grandes gigantes tecnológicos a apostar forte em sistemas de condução autónoma – um dos principais motivos para estes chorudos montantes investidos está relacionado, e sem surpresas, com as estimativas futuras das receitas provenientes deste novo mercado. O estudo prevê uma “economia de passageiros” global que terá o seu início quando os veículos completamente autónomos chegarem às estradas dentro de quatro ou cinco anos (ou menos, para os mais optimistas). De início, não serão muitos, mas para 2035 as estimativas para esta nova economia apontam para um mercado no valor de 800 mil milhões de dólares.
Rodeado por um conjunto de questões éticas sobre as quais o VER já escreveu, o mercado da condução autónoma prevê também que o “carro enquanto serviço” – ao estilo-Uber – venha a substituir o “carro enquanto propriedade”, o que irá alterar em força o modelo actual de transporte público, esperando-se uma transição para abordagens similares “on-demand”. Ou seja, as horas que costumamos perder em trajectos por vezes longos e “vazios”, transformar-se-ão em tempo para relaxar ou trabalhar activamente, encorajando as pessoas a viverem mais longe do que é hoje habitual, o que poderá ainda ser positivamente combinado com a necessidade reduzida de lugares para estacionamento e conduzirá a uma profunda alteração do “rosto” das cidades modernas. Adicionalmente, os veículos autónomos estão a ser programados para serem muito mais seguros do que os carros conduzidos por humanos, em particular quando as funcionalidades que permitirão evitar acidentes estiverem mais avançadas. Todavia, e em termos de regulação, existem ainda muitas lacunas, tantas quanto as questões que ainda não conseguiram ser resolvidas pela inteligência artificial subjacente a estes sistemas.
Ora, e ao longo desta semana, a Uber – que há anos está já a desenvolver uma espécie de frota autónoma que foi notícia, por exemplo, em 2016, quando um dos seus veículos pesados fez a a primeira entrega de quase 52 mil latas de cerveja Budweiser através do Colorado, sem condutor – tem estado também nas bocas do mundo e por um má razão. No passado Domingo, uma mulher em Tempe, no Arizona, acabaria por morrer depois de ser atropelada por um veículo operado pela Uber, o qual se encontrava em modo de condução autónoma, apesar de ter um condutor no interior, causando o que aparentemente é a primeira morte provocada por um veículo autónomo numa estrada pública. Já em Março de 2017, há exactamente um ano, um outro veículo sem condutor e também operado pela Uber chocou contra dois outros carros, tendo capotado de seguida. A Uber não está sozinha neste tipo de acidentes – vários outros têm vindo a ser reportados – e acumulam-se as dúvidas face à fraca regulamentação que caracteriza a actual e já avançada fase de desenvolvimento deste tipo de tecnologias, ainda não suficientemente autónomas e inteligentes para não requerem intervenção humana, mas em franco crescimento.
Apesar de, e até agora, os indícios apontarem para uma ausência de culpa por parte da Uber neste caso fatal, é normal – e necessário – que exista uma regulação adequada para os múltiplos testes que estão a ser feitos com veículos de condução autónoma em estradas “normais”. Mas e de acordo com vários observadores da indústria, mesmo com um caso fatal, não se vislumbram mudanças de peso na deficiente legislação que norteia esta inovadora indústria.
De acordo com a Bloomberg, os esforços para agilizar – e não reforçar – a legislação para acomodar esta tecnologia emergente datam já da Administração Obama e com apoio bipartidário. E dada a alergia manifesta do presidente Trump a tudo o que signifique regulamentação mais pesada, não se espera que este acidente fatal – em conjunto com os demais que já tiveram lugar – venha a resultar em barreiras significativas ao desenvolvimento deste promissor mercado.
Em Setembro do ano passado, o Departamento de Transportes dos Estados Unidos apresentou uma nova política que permite às empresas que estão a desenvolver veículos autónomos serem elas próprias a “policiar” a segurança da tecnologia, de acordo com um “guia orientador de conduta”e com normas “voluntárias”. Em um outro artigo da Bloomberg, a Secretária dos Transportes, Elaine Chao, afirmou que estas directrizes voluntárias são apropriadas para apoiar uma tecnologia com potencial para reduzir as mais de 30 mil mortes causadas por acidentes anualmente nos Estados Unidos, já para não falar no seu impacto positivo para a economia, traduzido em poupança de combustível e redução do tempo que se perde no trânsito.
Já a revista Wired escreve que – e apesar de existir uma maior permissibilidade em alguns estados face a outros, como é o caso do Arizona – “os carros autónomos não precisam de nenhuma permissão especial para circular, mas apenas um registo ‘normal’ do veículo”, sendo que as empresas que os operam não têm a obrigatoriedade de partilhar qualquer tipo de informação sobre o que estão a fazer com as autoridades.
A Wired escreve igualmente que, no início deste mês, o governador do Arizona, Doug Ducey, assinou uma ordem executiva actualizada a qual confere permissão às empresas para testarem e operarem veículos completamente autónomos (sem a existência de condutor) no seu estado. Até agora, apenas o estado da Califórnia exige a divulgação pública de dados específicos por parte das empresas que estão a desenvolver estes sistemas autónomos, os quais incluem a descrição de todos os tipos de acidentes em que tenham estado envolvidos, o número de quilómetros percorridos anualmente e o número de vezes que os operadores de segurança humanos são forçados a retirar o controlo ao sistema de inteligência artificial que os “conduz”. Todavia, está igualmente previsto que, a partir do mês de Abril, também a Califórnia permitirá a realização de testes com veículos sem condutor – nem com “humanos de segurança” – nas suas estradas públicas.
Apesar de existirem algumas vozes que, no Senado e em particular por parte dos democratas, clamam por uma maior regulação e legislação, os observadores concordam que é muito pouco provável que alguma lei relevante veja a luz do dia para garantir a segurança dos passageiros, pedestres e condutores que partilham com os veículos autónomos as estradas nos Estados Unidos. E mesmo a notícia da primeira morte causada por um veículo sem condutor é secundada, em muitos meios de comunicação, pelos inúmeros “benefícios” que a nova revolução na mobilidade irá trazer.
E com que argumento? O das estatísticas: cerca de 40 mil pessoas morreram nas estradas dos Estados Unidos em 2017, sendo que cerca de seis mil foram pedestres, o que dá uma média de 16 mortes por dia.
O carro autónomo da Uber “só” matou uma pessoa. Para os legisladores, contra estes factos parecem não existir argumentos.
Editora Executiva