POR HELENA OLIVEIRA
O mais recente relatório da Gallup, que rastreia as atitudes e percepções dos trabalhadores a nível global, com dados de 155 países que visam avaliar a eficácia de retenção e aproveitamento do capital humano nas forças de trabalho respectivas não trouxe boas novidades face a edições passadas. Pelo contrário. De acordo com a análise realizada no State of the Global Workplace, e sobre a qual o VER já escreveu, 85% dos trabalhadores no mundo inteiro estão ou descomprometidos ou “activamente” desligados das funções que desempenham e as consequências económicas desta que se assume como uma “norma global” são de aproximadamente 7 triliões de dólares em produtividade perdida.
Se é certo que os relatórios e as percentagens servem para quantificar comportamentos ou tendências, neste caso em particular talvez não fosse necessário recorrer a estatísticas para avaliar o estado de aborrecimento que “causa” o local de trabalho. Basta olhar em volta, ou para nós mesmos, para verificarmos que, para muitos – e pelos vistos para muitos mesmos – trabalhar significa uma espécie de tortura rotineira que nos faz arrastar de segunda a sexta-feira, tendo como única recompensa o fim-de-semana à vista. Talvez não seja politicamente correcto confessarmos o estado de tédio e de ausência de entusiasmo com que encaramos o que nos paga as contas ao final do mês, mas o fenómeno existe, persiste e parece não se vislumbrar uma luz ao fundo do túnel que o prometa inverter nos tempos mais próximos.
Mas e porquê? Afinal não vivemos no século das constantes novidades, em que a inovação e a criatividade fazem parte dos discursos de quase todas as empresas? Não deveríamos estar satisfeitos por participar na onda dos desenvolvimentos tecnológicos, dar graças por os locais de trabalho estarem mais humanizados, de existir uma preocupação com o bem-estar dos trabalhadores e com a conciliação da sua vida profissional com o “resto” das suas vidas, de as empresas ditas modernas estarem continuamente à procura de benefícios que atraiam e retenham as suas forças de trabalho? Se o conceito de trabalho está cada vez mais relacionado com um sentido de propósito, se o respeito pelos trabalhadores está na ordem do dia, se a flexibilidade é um imperativo das novas culturas organizacionais, o que explica este desinteresse contínuo dos humanos face ao trabalho?
[quote_center]A falta de interesse no nosso trabalho resulta de uma tendência evolucionária à qual, nós humanos, dificilmente escapamos, com a agravante de as empresas estarem a contribuir para acentuar esta característica biológica[/quote_center]
No mais recente livro de Dan Cable, lançado há uma semana, o professor de Comportamento Organizacional na London Business School assegura que a ausência de envolvimento e compromisso com o trabalho que fazemos não está relacionado com falta de motivação. Pelo contrário. A esmagadora maioria dos trabalhadores deseja lutar contra este sentimento, ambiciona encontrar sentido naquilo que faz e adoraria acordar bem-disposto e com vontade de ir trabalhar quando o malfadado despertador toca. Na verdade e segundo Cable, o problema é biológico.
Em Alive at Work: The Neuroscience of Helping Your People Love What They Do, o especialista em envolvimento no trabalho, gestão da mudança, cultura organizacional e perfis de liderança, dedica-se a explicar por que motivo a falta de interesse no nosso trabalho resulta de uma tendência evolucionária à qual, nós humanos, dificilmente escapamos, com a agravante de as empresas estarem a contribuir para acentuar esta característica biológica. Num podcast e de acordo com o professor, os humanos não foram programados para os trabalhos repetitivos e sem recompensas emocionais existentes na esmagadora maioria das organizações. Ao invés, a nossa espécie desenvolveu um “gene explorador”, mais precisamente uma região do cérebro que possui “sistemas de busca” que fornecem o impulso intrínseco para explorar novos ambientes, aprender e encontrar significado no que nos está mais próximo. O problema é que e apesar de esta característica biológica fazer parte integrante do que somos, são muitas as organizações que estão a “desactivar” estes mesmos sistemas nos seus trabalhadores, confinando-os a actividades rotineiras que restringem e inibem a auto-expressão, a capacidade para explorarem “mais além” e de aprenderem coisas novas. Mas vamos por partes.
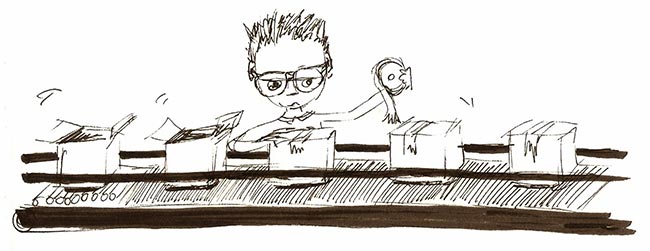
Reminiscências da Revolução Industrial ainda subsistem nas organizações modernas
De acordo com a neurociência, e em linha com a investigação de Dan Cable, o “sistema de busca”[“seeking system”, em inglês], como ele o denomina – e que está relacionado com o sistema de recompensa cerebral que actua na libertação da dopamina, o neurotransmissor responsável pelas sensações de prazer, de felicidade e da motivação, entre outros – cria um impulso natural para explorarmos o mundos que nos rodeia, aprendermos sobre o ambiente que nos acolhe e extrairmos significado das circunstâncias em que vivemos. E é exactamente quando seguimos o “incitamentos” deste nosso sistema de busca, que ele liberta a dopamina e nos faz desejar explorar mais. Em termos evolucionários, o sistema de busca é a parte do cérebro que encorajou os nossos ancestrais a quererem sempre ir mais longe e a “ver o que acontecia”.. E é isso que nos impele a ter hobbies, a procurar novas competências e ideias simplesmente porque estas despertam a nossa curiosidade e interesse. Este mesmo sistema de busca explica também por que motivo os animais em cativeiro preferem procurar a sua própria comida em vez de simplesmente a receberem. E quando o mesmo é activado, sentimo-nos mais motivados e resolutos. Ou, em suma, sentimo-nos mais vivos.
Mas e por outro lado, o cérebro possui também um “sistema de medo”, que liberta cortisol – uma hormona directamente relacionada com as respostas ao stress – e que pode dominar o sistema de busca, conduzindo a comportamentos conformistas e inibidores do nosso próprio potencial. E, nas organizações, mesmo nas consideradas mais inovadoras e amigas da disrupção, a verdade é que os seus líderes não parecem saber lidar com formas alternativas de se trabalhar, acabando por dar preferência ao sistema do medo, o qual se encontra bem definido nas práticas de gestão que incluem as políticas de controlo através da avaliação de métricas de performance, incentivos ou punições, promoções, etc.. Tudo a bem do controlo empresarial.
[quote_center]Quando a gestão moderna foi concebida, as organizações foram propositadamente desenhadas para suprimir os nossos impulsos naturais de aprendizagem e exploração[/quote_center]
Explorar, experimentar, aprender. Foi assim que fomos programados para viver. E também para trabalhar, garante Cable. O problema é que, e remontando à Revolução Industrial – quando a gestão moderna foi concebida – as organizações foram propositadamente desenhadas para suprimir os nossos impulsos naturais de aprendizagem e exploração. Ou, e como refere o professor da London School of Economics, com o objectivo de incrementar as organizações no final do século XIX, foi inventada a burocracia, bem como as práticas de gestão, para que milhares de pessoas pudessem ser “controladas” através de sistemas de avaliação e monitorização. E porque os gestores precisavam de empregados completamente concentrados nas suas tarefas rotineiras, foram igualmente criadas políticas que reprimiam e travavam qualquer desejo de exploração e de tentar coisas novas. Estas normas aumentaram a produção, e a confiabilidade nos trabalhadores, mas reduziram a sua auto-expressão, bem como a sua capacidade para experimentar e aprender. Como recorda o professor, Henry Ford não achava qualquer graça à criatividade e inovação dos seus trabalhadores.
Mas o que é que este ambiente laboral tem a ver com os tempo actuais? A verdade é que, e segundo Cable, há muitas reminiscências da Revolução Industrial que ainda persistem nas organizações da actualidade. Como escreve, numa tentativa extremamente zelosa para se manterem competitivas, assegurarem a qualidade e cumprirem com as regras, a maioria das organizações de grande dimensão acabaram por desenhar ambientes de trabalho que dificultam que os empregados experimentem, “estiquem” os seus limites para além das funções especializadas que exercem, elevem até à excelência as suas competências únicas ou vejam o impacto que o seu trabalho tem. Assim e como resultado, as organizações desactivaram os sistemas de busca dos seus trabalhadores, activando, por seu turno, os seus sistemas de medo, o que estreita a sua percepção e encoraja a sua submissão.
Numa entrevista à revista Forbes e questionado sobre o facto de passarmos uma grande parte das nossas vidas no trabalho e este constituir uma experiência incrivelmente dolorosa, Daniel Cabe responde da seguinte maneira: “quando percebi que tínhamos uma parte do cérebro que nos impele a interessarmo-nos por coisas que não percebemos, mudei totalmente a minha visão sobre a gestão – no sentido de esta ser uma ferramenta para controlar pessoas”, diz. Por um lado, acrescenta, “temos esta força dentro de nós, que nos urge a mantermo-nos criativos e a tentar coisas novas, a ser curiosos, a crescer e a usar o nosso potencial e os nossos pontos fortes para ter impacto nos outros. Mas e por outro, a maioria de nós está em trabalhos onde o quotidiano de oito ou 10 horas está pré-planeado, onde fazemos a mesma coisa, 10, 20 ou 30 vezes por mês, onde existem métricas apertadas e onde existe muito pouco tempo disponível para experimentar ou criar. E de repente percebi que era mesmo esse o problema: somos abalados por esse sentimento de impotência”, acabamos por nos conformar e o tédio instala-se significativamente.
[quote_center]As organizações desactivaram os sistemas de busca dos seus trabalhadores, activando, por seu turno, os seus sistemas de medo, o que estreita a sua percepção e encoraja a sua submissão.[/quote_center]
Adicionalmente, quando as pessoas trabalham nestas condições, e onde o sistema do medo se sobrepõe ao sistema da busca, acabam por se tornar cautelosas, ansiosas, receosas. E apesar de desejarem sentirem-se mais despertas e criativas, tudo começa a parecer um aborrecimento. É normal que comecem também a sentir alguns sintomas de depressão, como dor de cabeça ou dificuldades acrescidas em acordar e começar o dia. E, com o passar do tempo, começam a acreditar que o seu estado é imutável e descomprometem-se com o trabalho. Todavia, alerta também o autor, “a nossa tendência evolucionária para nos desligarmos de actividades entediantes não constitui um defeito da nossa mente, mas antes uma característica. É apenas uma forma de o nosso corpo nos recordar que fomos concebidos para fazermos coisas melhores. Que devemos manter a vontade de explorar e aprender. Esta é a nossa biologia – é parte do nosso inconsciente adaptável que sabe que o nosso potencial humano está a ser desperdiçado”.

O trabalho do cérebro e a reactivação do sistema
Na medida em que, e passe o pleonasmo, trabalhar é trabalho do cérebro, a compreensão da cultura organizacional precisa de ser melhor fundamentada no entendimento da neurociência. Pelo menos é o que dizem os seus defensores. Ou, e por outras palavras, se o trabalho é a prática do cérebro, então precisamos de pensar como é que podemos potenciar a sua utilização. E é exactamente a esta exploração no interior da mente e do trabalho que Dan Cable dedica o seu livro, e numa altura em que, mais do que nunca, as empresas precisam de trabalhadores que inovem.
Mas o que devem ar organizações fazer para reactivar o sistema de busca que estimulará uma maior motivação e consequente envolvimento com o trabalho? Num excerto do livro de Cable publicado na Management Today e também num podcast publicado pela Harvard Business Review, são reveladas algumas estratégias que os líderes devem aproveitar para que os trabalhadores ganhem uma nova “alegria no trabalho”: a auto-expressão, a experimentação e o propósito personalizado. Todavia, o autor avisa também que esta reactivação de sistema não é fácil, nem imediata.
Cable defende que muitos de nós escondem o seu verdadeiro eu nos locais de trabalho e que ter noção deste factor é de importância extrema. Ou seja, na era moderna – e deixando para trás e de uma vez por todas a replicabilidade e normalização das funções – a criatividade, a resolução de problemas e a invenção – ou a inovação, o termo mais em voga – são competências cada vez mais necessárias. Ou e pela lógica, são também cada vez mais necessárias pessoas que apliquem os seus pontos fortes na execução de tarefas e resolução de problemas. O que não é de todo necessário, alerta Cable, é que essas pessoas tenham de fingir ser algo que não são – ou seja, a personalização do trabalho é, a seu ver, uma urgência para as culturas organizacionais da actualidade. E é aqui que entra a auto-expressão: quanto mais os nossos pares souberem quem somos e aquilo que fazemos de melhor, mais facilmente nos podemos sentir como “nós mesmos” no local de trabalho. Cable sugere que os empregadores criem relatórios de “best-self” para trabalhadores e novas equipas e de seguida a encorajar os mesmos a redesenharem as suas funções de acordo com esses pontos fortes assumidos. Uma outra ideia – que algumas empresas estão a adoptar – é a criação de novos, expressivos e personalizados “títulos” para todos os trabalhadores, à medida que estes forem customizando as suas funções – dando como mote o recente Chief Happiness Officer. Os líderes podem também encorajar as equipas a discutirem abertamente as qualidades únicas de cada um dos seus membros e incluir as suas perspectivas na tomada de decisão do grupo. Para Cable, estas são medidas evidentes para que os empregados se envolvam mais com os seus locais de trabalho, aumentando o seu conceito de “auto-consciência” e enquadrando-o nas normas do ambiente empresarial em que circulam.
[quote_center]As empresas devem apostar numa cultura que estimule a curiosidade e na qual os trabalhadores se sintam encorajados a “brincar” em torno dos seus interesses intrínsecos e pontos fortes pessoais[/quote_center]
A segunda estratégia está relacionada com a experimentação. Construir uma cultura que estimule a curiosidade e na qual os trabalhadores se sintam encorajados a “brincar” em torno dos seus interesses intrínsecos e pontos fortes pessoais, obviamente no enquadramento das exigências organizacionais, é outra sugestão de Dan Cable. Segundo o autor, isto pode levar a um pensamento mais flexível, uma característica que a maioria dos líderes afirma ser hoje essencial nos trabalhadores, e que a maioria deles gosta de exibir. O resultado não se traduz só em melhores produtos e serviços, mas também em maior entusiasmo e motivação.
Por último, mas de todo menos importante, e sendo o propósito algo pessoal e emocional, é muito difícil para os líderes poderem contribuir para o instilar nos seus colaboradores. Todavia, tal não significa que não possam ajudar a interiorizar esse propósito nos outros e encorajá-los a encontrar um maior significado no trabalho que executam. Quando compreendemos e acreditamos verdadeiramente no porquê das nossas acções, temos maior resiliência e energia. E é como se o nosso sentido de propósito tivesse sido despertado porque oferecemos os nossos conhecimentos à equipa sobre o ambiente em que trabalham e sobre o que funciona melhor ou experienciamos primeiro.
Tudo isto parece muito bonito, restando saber o seu grau de eficácia. Mas uma outra ideia é expressa por Dan Cable na entrevista que concedeu à revista Forbes e que se traduz numa certa desconfiança face à vontade de os líderes levarem a sério estas – e muitas outras, obviamente – sugestões e ainda menos de implementá-las. E quando questionado sobre essa resistência, o professor de cultura organizacional coloca as culpas na eficiência. Ou seja, na sua perspectiva, a maioria das organizações, dos líderes, e dos MBAs que são formados concentram as suas energias em como é possível fazer as coisas de forma mais eficiente, não pensando no longo prazo nem na necessidade de que um relacionamento com os seus trabalhadores seja, mesmo, um relacionamento. A ditadura do imediatismo, dos resultados trimestrais, dos objectivos e metas que têm de ser cumpridos em nada contribuem para uma organização que precisa de tempo para pensar, explorar e levar os seus trabalhadores a aprenderem coisas noivas e a aprimorarem aquilo que fazem de melhor.
O que aqui realmente importa é que ao contrário das motivações de curto prazo como os bónus ou outros benefícios extra, o activamento do sistema de busca possui impactos de longo prazo na nossa motivação e no nosso bem-estar físico e emocional. Como assegura o autor de Alive at Work, quando trabalhamos e vivemos em ambientes onde a exploração e a experimentação são encorajados, somos pessoas mais felizes e saudáveis. E se isso é tudo o que mais queremos, há que ler o livro de Dan Cable.
Editora Executiva


































