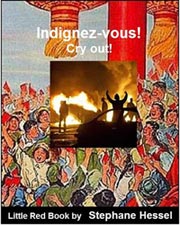|
Ter uma vida melhor. Esta é a aspiração comum a todos os que, ao longo de 2011, manifestaram, de formas diversas, os seus protestos nos mais díspares locais do mundo. O que começou como a denominada Primavera Árabe, extravasou fronteiras e tornou-se um movimento global. Até agora, os “contagiados” optaram por insurreições pacíficas. Mas são vários os alertas para uma possível e potencialmente perigosa perda de paciência
Do Médio Oriente ao Norte de África, passando pela Europa, América Latina, Ásia e Estados Unidos, de forma lenta, mas verdadeiramente contagiante, uma nova “resistência” tomou forma e as palavras de ordem acabam por ter muito em comum: mais justiça e menos desigualdade. No entanto, no interior deste fenómeno, existem vários outros aos quais se deve dar particular atenção. Afinal de contas, numa perspectiva histórica, e com 7 mil milhões de habitantes, nunca o mundo foi tão rico, saudável e seguro. Só a título de exemplo e desde 1981, de acordo com as Nações Unidas, a proporção dos países em desenvolvimento a viver em pobreza extrema caiu de 50 por cento para menos de 20 por cento; a mortalidade infantil atingiu uma queda recordista; o número de raparigas a frequentar escolas subiu astronomicamente; os terroristas e tiranos vão sendo apanhados e castigados e as probabilidades de se morrer numa guerra nunca foram tão diminutas. Todavia, estas “boas” notícias não impediram que um movimento de contestação se tornasse viral, global e massificado. E tanto assim foi que até a revista Time – que há muitos anos é objecto de “apostas” no que respeita à Personalidade do Ano por ela escolhida – elegeu “o manifestante” como tal. Num dos ensaios em que explica os motivos de tal escolha, a revista aponta para o facto de “políticas democráticas de faça-você-mesmo” se terem globalizado e dos “protestos ao vivo se terem massificado de forma viral”. DaTunísia a Wall Street “No Egipto e na Tunísia, essa vontade veio de pessoas que desejavam substituir sistemas inteiros que eram corruptos e opressores por outros concebidos para reflectir a vontade alargada de um povo”, pode ler-se no manifesto de Stephane Hessel (v.Caixa). “Em locais como os Estados Unidos ou o Reino Unido, as pessoas não procuram a substituição do sistema ou do governo, mas antes exigem que estes voltem a suprir as necessidades e desejos de uma sociedade alargada”. Ou seja, a mensagem parece ser clara: “isto assim não funciona, basta!”. Neste panfleto, intitulado Indignez-Vous (“Time to Outrage”, em inglês) que acabou por vender mais de 4 milhões de cópias em 30 línguas desde que foi impresso em Outubro de 2010, o diplomata francês de 93 anos, Hessel, sugere também que “apesar das diferentes formas que possam tomar, a esmagadora maioria destes movimentos em todo o mundo está a tentar quebrar o poder político que a oligarquia dos ricos, dos mercados financeiros e dos lobbies empresariais possuem não só nos governos, como em sistemas políticos inteiros”. Os vários movimentos de protesto que deixaram marca em 2011, cada um com as suas especificidades tiveram igualmente algumas realidades, ou “frutos da globalização”, em comum: elevadíssimas taxas de desemprego, especialmente entre os jovens – tanto no Egipto, como na Grécia, Espanha ou os Estados Unidos, só para citar algumas -, uma frustração face ao clientelismo crescente e ao seu subproduto – a desigualdade – e a perda de confiança na ordem até aqui estabelecida. Obviamente que a Primavera Árabe, que atingiu o estatuto de revolução, no sentido de ter sido uma luta travada por milhões de pessoas para exigir a substituição de um regime tirano por algo mais parecido com a democracia – apesar de esta parecer ainda longínqua para muitos dos países em causa – foi um evento muito mais marcante e de importância suprema comparativamente aos acampamentos de cidadãos – insurrectos pacíficos – que encheram as Portal del Sol, em Espanha ou as ruas de Wall Street. Não são realidades directamente comparáveis. Mas e com a preciosa ajuda das novas tecnologias, nomeadamente o Facebook e o Twitter – extravasaram fronteiras, motivos e origens, e fizeram do mundo em 2011 um palco de manifestações. O problema é que, findo o ano, o palco continua montado e os seus diferentes actores não parecem estar com vontade de o abandonar. A forma e o conteúdo Neste ambiente de contágio, há até quem vá mais longe e recorde a teoria de Richard Dawkins, o etólogo e evolucionista que, em 1976, cunhou o termo “meme”, no seu bestseller O Gene Egoísta, e que é considerado como uma unidade de informação que se multiplica de cérebro em cérebro, ou seja, auto propagando-se. Em Maio último, o editorial do site openDemocracy, a propósito da Primavera Árabe, apresentava a “memética”, em analogia, como a teoria que afirma que as ideias passam pelas populações de forma muito similar à dos genes, adaptando-se e evoluindo de acordo com as condições em que habitam e gerando ideias versáteis e tão fortes, que se espalham, abafando as que lhe precederam. E, assim, a forma dos protestos disseminou-se. Mas e o que dizer relativamente ao conteúdo? A Time escreve que os manifestantes de 2011 se opuseram a um “hiper-capitalismo nepotista”, o que pode constituir uma boa descrição do que une os activistas em Madrid e em Nova Iorque, mas não os da Praça de Tahir ou os de Pearl Square, no Bahrein. Sim, no mundo árabe o nepotismo tem sido regra, mas não o capitalismo. E não nos podemos esquecer do óbvio: o mundo árabe não conhecia (e ainda não conhece verdadeiramente) a democracia, o que não acontece no Ocidente. E, como refere novamente a Foreign Policy, o Egipto, por exemplo, precisava de uma revolução, ao passo que, comparativamente aos países da Europa ou aos Estados Unidos, cujos cidadãos também invadiram as ruas, são as reformas que são necessárias. Ou, mais precisamente, é o modelo ocidental de democracia que parece estar a precisar de revisão. Se nos centrarmos na Europa, é sabido que a crise da dívida soberana causou o colapso e/ou a derrota eleitoral de governos na Grécia, Itália, Espanha e Portugal. A Alemanha, enquanto membro mais rico e mais poderoso da zona euro, insistiu que os seus mais mal comportados vizinhos engolissem o remédio da austeridade como condição para a assistência vinda de Berlim. E, aos olhos dos alemães, nada mais justo do que isso. O problema é que os povos do Sul da Europa (com novos membros que também se vão juntando ao clube) estão a ficar demasiado escaldados com esta receita que nada melhor augura do que muitos anos de dolorosas dificuldades. Com a imposição do fármaco por uma potência “estrangeira” e, em alguns casos, como a Grécia e a Itália, em que os governantes não foram eleitos democraticamente, mas sim substituídos por tecnocratas, independentemente da sobrevivência ou não do euro, os europeus parecem estar muito próximos de perder a paciência. Já nos Estados Unidos, o movimento Occupy Wall Street trouxe para as ruas e para o debate a questão da concentração da riqueza – a essência do movimento reside nos 99% que estão a ser “enganados e explorados” pelo 1% . De acordo com uma sondagem realizada em Dezembro último pelo Pew Research Center, 77% dos americanos, incluindo 53% dos republicanos, afirmam que “existe demasiado poder nas mãos de alguns milionários e de vários monstros empresariais”. Mas os “Um Por Cento” também se queixam de que a sua quota total de rendimentos caiu de 23% para 17% desde o início da recessão, o que chamou a atenção de alguns políticos para a sua defesa. Por seu turno, a pré-candidata republicana, Michele Bachmann, apelou, em Novembro último no Iowa,”que os americanos precisavam de acordar, e em especial o próprio Occupy Wall Street, e parar de culpar os criadores de postos de trabalho pelos fracassos causados por políticos egoístas”. Os lamentos são vários, as acusações e as culpas também. O mundo inteiro queixa-se. Em 2012, a Rússia, a China e a França escolherão novos líderes, bem como os Estados Unidos que, até Novembro, estarão demasiado ocupados com as suas querelas partidárias e campanhas eleitorais. Protesta-se contra o capitalismo ou contra o hiper-capitalismo? Desejam os manifestantes que as grandes empresas se comportem melhor ou acreditam, realmente, que elas personificam um mal maior? Sabe-se que o actual modelo de crescimento em termos económicos e sociais ameaça destruir o planeta mas, em simultâneo, ninguém se atreve a imaginar seriamente um outro modelo alternativo. Por outro lado, a China, que representa um conjunto de valores políticos totalmente diferente do ocidental, está a comprar dívida ao Ocidente, a adquirir as suas indústrias e empresas e, como escrevia o The Independent há exactamente um ano, “a comprar as consciências e as almas ocidentais”. Em suma, o mundo parece estar perdido numa teia de confusa de valores em queda, de lideranças fracassadas, de democracias impotentes. E o povo, muito provavelmente, continuará a sair às ruas. Resta saber em que moldes.
|
|||||||||||
Editora Executiva