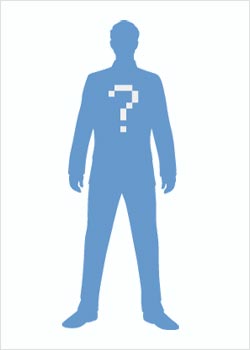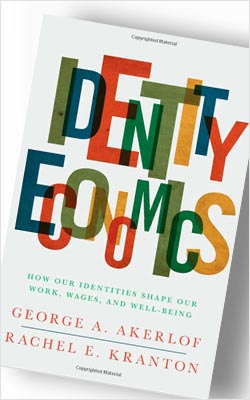|
As noções que possuímos sobre o que é adequado ou inapropriado, para nós e em relação aos outros, são fundamentais para se perceber a forma como as pessoas trabalham, aprendem, gastam ou poupam. Depois de 15 anos a trabalhar no tema, o Nobel da Economia George Akerlof e Rachel Kranton, professora na Duke University, apresentam a sua nova “invenção” e um novo paradigma: a economia da identidade
Alguns meses mais tarde, Akerlof é confrontado com uma carta de Rachel Kranton, uma desconhecida professora associada de Economia na Universidade de Maryland, na qual escrevia que o paper tinha uma falha grave pois não tomava em consideração o papel da identidade na determinação dos resultados económicos. Kranton ia mais longe e afirmava que as preocupações relativamente à identidade consistiam uma omissão séria na teoria económica. Nas palavras do próprio Akerlof, o já famoso professor não achou a mínima graça às críticas, para além de que tinha a certeza que Kranton estava equivocada. Para Akerlof, a identidade era apenas um aspecto das preferências das pessoas e estas já tinham sido incluídas por alguns economistas em diversas teorias. Contudo e depois de ter acalmado o seu ego, Akerlof acede em encontrar-se com Kranton, para ouvir os seus argumentos. Quase 15 anos mais tarde, ambos assinam um livro, editado em Fevereiro último, denominado “Identity Economics: How our Identities Shape Our Work, Wages and Well-Being”, classificado por vários críticos como a invenção de um novo conceito na economia comportamental, que se debruça, em grande parte, sobre as questões relacionadas com os incentivos e com a motivação. Para os autores, a economia da identidade é, em simultâneo, uma continuidade e um divórcio com outros desenvolvimentos recentes nesta área específica que, nos últimos 50 anos, aproximou os economistas da realidade. E, já em 2000, a dupla introduzia formalmente a identidade na economia, publicando um ensaio no Quarterly Journal of Economy, afirmando que “porque a identidade é fundamental para o comportamento, a escolha dessa mesma identidade poderá ser a mais importante decisão ‘económica’ feita pelas pessoas”. A aproximação da economia à “vida real” tem expressão na denominada “teoria dos jogos”, uma análise mais flexível que incorpora questões tão díspares como o casamento ou a política monetária ou ao facto de Gary Becker ter atribuído as taxas crescentes de divórcio às alterações dos conceitos básicos de Adam Smith no que respeita à divisão laboral. Uma outra referência neste campo que liga a economia a aspectos menos abstractos que números e estatísticas é Tim Hartford, que tentou, no seu livro The Logic of Life (sobre o qual o VER já escreveu), de uma forma simples, utilizar as ferramentas da economia, a par de estudos e dados diversos, para decifrar os mistérios da nossa existência, tendo como motor a teoria da escolha racional e a premissa de que as pessoas racionais respondem a compromissos e incentivos. Contudo e voltando a Akerlof e a Kranton, as questões a que ambos tentaram responder eram: o que é exactamente a identidade? E de que forma pode esta ser incorporada na economia?
Retomando o trabalho de Vilfredo Pareto, sociólogo e filósofo, principalmente o seu trabalho escrito em 1935, The Mind and Society, no qual acusava já que os economistas nunca levavam em consideração aspectos importantes da motivação, o economista italiano defendia que as pessoas possuem, tipicamente, uma opinião bem formada de como se devem ou não comportar, e o mesmo se passa relativamente aos seus pares. Ou seja, a visão que têm de si mesmos e da forma como também os outros se devem comportar, depende também da visão que as pessoas têm delas mesmas, ou seja, da sua identidade. De acordo com os sociólogos, estas convicções não são visões morais ou éticas, mas sim normas que são centrais à motivação. Uma outra referência para o trabalho dos dois economistas é o facto de que as pessoas terem um “ideal” de comportamento que, na maior das vezes, é conceptualizado em termos de alguém que conhecem, que não conhecem ou até de uma personagem imaginária. E, para finalizar este conceito, está também provado que as pessoas tendem a ser mais felizes quando vivem de acordo com aquilo que pensam que devem ser. Esta é uma das razões devido à qual a maioria dos colaboradores das empresas se preocupa com a dignidade no trabalho, sendo imprescindível que sintam que aquilo que fazem é útil. Pelo contrário, quando são frustrados nas suas intenções, seja pelas suas acções ou de outros, essa dignidade esvai-se e a frustração consequente é manifestada pelo seu descontentamento por agirem de uma forma diferente. E tudo isto acontece com os demais grupos sociais e está intimamente relacionado com a economia. Aqueles que aceitam a cultura dominante de uma empresa são insiders e os demais, que não conseguem agir de acordo com as normas, são outsiders. Como a economia está intimamente ligada aos incentivos, o tema principal abordado no famoso livro Freakonomics, até agora, os economistas privilegiaram sempre a teoria dos preços como a norma, mas que exclui outro tipo de motivações. Se estas são várias, a que mais ausente tem estado, de acordo com Akerlof e Kranton, é exactamente a questão da identidade, que tem um impacto significativo nos problemas económicos. Voltando assim às organizações, o que as faz funcionar? A teoria económica standard das organizações afirma que estas funcionam bem se, às pessoas em diferentes funções, forem dados os incentivos económicos adequados. Mas uma leitura cuidada das várias teorias económicas também confere uma interpretação oposta. Nesta visão em particular, independentemente dos incentivos oferecidos por uma determinada organização, os seus colaboradores irão arranjar forma de os utilizar para a sua própria vantagem e não para os propósitos que lhes dão origem.
Em Freakonomic, o exemplo que sustenta esta teoria é dado pela análise de alguns professores de uma escola de Chicago que responderam aos seus incentivos dando directamente as respostas aos testes passados aos seus alunos (para poderem subir na avaliação e ganharem extras). Ou seja, é uma forma perversa de os utilizar e isso acontece também nas empresas. Assim, as organizações que realmente funcionam são aquelas em que os seus colaboradores se identificam com o trabalho que nelas realizam ou com a própria empresa onde trabalham. Sendo que, neste caso, a variação nos incentivos tem um papel muito menos significativo do que quando os colaboradores não se identificam com o que fazem, arranjando sempre uma forma de “fintar” o sistema em seu proveito. E assim chegamos a uma das partes mais interessantes do livro, que serviu de crónica numa edição recente do Financial Times recente, escrita pelos autores. Wall Street deverá, de uma vez por todas, transformar-se em Main Street. Vejamos porquê. Trabalhar com vista aos incentivos é uma atitude de má-fé Assim, a questão que se coloca é a seguinte: se os incentivos monetários não funcionam, o que é que funciona mesmo? E é aqui que os autores voltam a responder com a questão da economia da identidade – a nova forma de pensar sobre a motivação. Ou seja, como já foi anteriormente referido, nas organizações que funcionam adequadamente e com as quais os trabalhadores se identificam, as pessoas desejam fazer um bom trabalho porque sentem que é isso que devem fazer e porque sabem que é a coisa certa a ser feita. Ou seja, os objectivos dos trabalhadores estão alinhados com os objectivos da própria organização. Os conflitos de interesse são reduzidos e não existe uma grande necessidade para o pagamento de acordo com a performance. E Akerlof e Kranton afirmam também que é por causa da economia da identidade que, não só na América, como em todo o mundo, os cidadãos estão tão enraivecidos com os bónus de Wall Street.
A maioria de nós faz o seu trabalho, que nem é glamoroso nem extremamente bem pago, e também celebra feitos heróicos como o do piloto que amarou no rio Hudson e viu, por duas vezes, se não havia mais ninguém no avião antes de pôr a salvo – dizendo simplesmente que esse era o seu trabalho (e que um mês mais tarde, viu o seu ordenado a ser diminuído em 40% e a sua pensão a ser extinta) – ou os bombeiros que arriscam a sua vida todos os dias, porque esse é o seu trabalho. Ora, a maioria das profissões não envolve grandes riscos e são os profissionais “heróicos” que admiramos. Então por que motivo é que os banqueiros e os traders precisam de bónus extravagantes e de pay-for-performance para azerem o se trabalho? Uma remuneração justa não deve ser confundida com incentivos desmesurados. “Na economia da identidade, o pagamento de acordo com a performance demonstra má-fé”, afirmam Akerlof e Kranton. “Ou seja, é o mesmo que dizer a um trabalhador que ele não é de confiança para fazer o que está certo e que precisam de extras para o fazer”. Ou seja, na economia da identidade, não se trabalha pelo interesse próprio, mas pelo interesse dos clientes ou da organização no seu conjunto. E apesar dos princípios, dos valores e da responsabilidade parecerem não fazer parte do dicionário de muitos líderes empresariais, a verdade é que eles podem ensinados, seguidos, institucionalizados e salvaguardados pela lei. É isso que vemos, como dizem os autores, nos bombeiros, nas fábricas, nas salas de cirurgia, nas escolas e em outros locais que partilham a sua identidade. |
|||||||||||||||||||
Editora Executiva