“O carácter é a soma de milhares de pequenos esforços para viver de acordo com o que de melhor há em nós”, Alfred Montapert
“Todo o homem tem três caracteres: o que exibe, o que tem e o que pensa que tem”, Alphonse Karr
Exemplos de falhas de carácter não faltam. Seja na política, no entretenimento, nos negócios ou no vizinho do lado, são ilimitadas as histórias de pessoas pejadas de comportamentos indecorosos, maliciosos, corruptores, perversos, abusivos, entre outros adjectivos que definem a ausência de valores e de virtudes. E em particular quando os comparamos a nós próprios e aos que nos são queridos. Se fecharmos o círculo onde pertencemos e onde cabem os nossos familiares e amigos, tudo fica menos nublado. A tendência é considerarmo-nos como pessoas generosas, de bom coração, de confiança, incapazes de cometer qualquer acto menos ético. Ou e em suma, temos um bom carácter.
Todavia e de acordo com o Professor Christian Miller, docente de filosofia na Wake Forest University e autor do livro The Character Gap: How Good Are We?, estamos errados em relação a esta premissa e são centenas os estudos na área da psicologia que contam uma história completamente diferente: a de que todos nós temos falhas graves de carácter que nos impedem de sermos tão bons quanto consideramos ser e de nem sequer reconhecermos que essas falhas existem. Todavia e pelo contrário, também não existe (na maioria) ninguém que seja completamente cruel ou desonesto. Ao invés e como escreve o próprio Miller, o que somos é uma “mistura complexa de bem e de mal”, para além de sermos inconstantes e dos nossos comportamentos dependerem, em muito, do contexto em que estamos inseridos.
Na verdade e à primeira vista, esta declaração não é, de todo, uma grande revelação. A escolha entre “anjos e demónios” há muito que é definida de acordo com as oportunidades e/ou circunstâncias em que nos encontramos e das oportunidades que nos surgem para nos comportarmos bem ou mal.
Adicionalmente, e ao mesmo tempo que podemos ignorar um grito de socorro na nossa vizinhança, podemos também, de forma altruísta, ajudar um completo estranho que precise de auxílio. O mesmo é válido para a resistência que nos impede de mentir, enganar ou roubar mesmo que saibamos que não temos hipóteses de ser apanhados. Ou seja, na esmagadora maioria dos casos, temos um potencial similar para fazer um enorme bem, mas também para fazer um grande mal. E porquê?
De acordo com os mais recentes estudos na área da psicologia comportamental, somos significativamente alheios a forças que têm um papel principal na forma como tomamos decisões. Ou seja, escolhas que assumimos como resultado do nosso livre arbítrio são, e depois de uma observação mais aprofundada, largamente determinadas pelas forças biológicas, ambientais e sociais exteriores a nós e que estão para além do nosso controlo.
Este tipo de descoberta assume-se, no mínimo, como aterradora, exactamente porque coloca em causa a responsabilidade humana e a própria natureza da nossa personalidade, algo que as experiências estudadas e realizadas pelo professor de filosofia e fundador do Characer Project, parecem comprovar.
Mas e voltando aos objectivos do seu livro, um dos principais é clarificar aquilo que entendemos quando falamos sobre carácter. Como escreve e apesar de vivermos numa sociedade onde existe um leque alargado de valores, no geral todos concordamos que o carácter é composto por determinadas virtudes (como a honestidade e a compaixão) e também por vícios (como a ganância ou a traição). E temos igual tendência para concordar que os motivos também contam quando tentamos definir o carácter de alguém.
Todavia, são muitas as experiências que, por exemplo, demonstram a nossa falta de compaixão, a não ser que sejamos pressionados a senti-la ou quando nos dão uma razão para sentirmos vergonha caso não o façamos. E com os incentivos certos, podemos até ser bastante generosos e compassivos. Por exemplo, a velha estratégia de nos tentarmos colocar nos sapatos do outro pode ajudar, duas vezes mais, a oferecer ajuda a alguém que está a viver algum tipo de necessidade. Ou e como uma das conclusões centrais do livro, o nosso comportamento é radicalmente inconsistente e, tal como já acima referido, parece depender menos dos nossos traços de carácter e mais do contexto em que cada oportunidade surge para termos um comportamento virtuoso ou indigno.
O estudo do carácter – ou da virtude – foi, desde tempos imemoriais, tema de interesse para muitos pensadores. Sócrates, Platão e Aristóteles estudaram-no, bem como os filósofos e teólogos medievais. E, ao longo dos últimos 60 anos, a temática tem vindo a ganhar uma importância renovada não só na área da teologia e da filosofia, como também na da psicologia. A verdade é que, e em particular na última década, até as escolas e universidades oferecem programas de “desenvolvimento de carácter”, são várias as entidades que tentam encorajar o seu “aperfeiçoamento” em áreas como o desporto, por exemplo, as empresas tentam enquadrá-lo nos seus programas de ética e muitos grupos religiosos e outras organizações incluem também um enfoque na “melhoria” do carácter como parte integrante do que significa ser religioso ou espiritual.
Assim, o que Miller propõe no seu livro é, e em particular tendo em conta a prolífera literatura existente na área da psicologia, da filosofia e da teologia sobre o tema – e também levando em linha de conta o seu próprio projecto -, explicar o que significa, nos dias de hoje, o carácter e como podemos utilizar os novos conhecimentos científicos para o desenvolver, torná-lo melhor e diminuir o tal gap que acredita existir entre o quão bons julgamos ser e o que realmente somos.

Experiências pouco abonatórias
Na senda de tentar compreender que tipo de decisões morais ou amorais as pessoas tomam ao longo da sua vida, uma boa parte do livro é dedicada a explorar estudos e experiências que demonstram que as pessoas podem alternar a crueldade com a bondade. A sua pesquisa foca-se, contudo, em quatro áreas por excelência nas quais demonstramos claramente o nosso carácter, seja para o bem ou para o mal: ajudar, prejudicar/provocar mal, mentir e defraudar.
E algumas das experiências citadas pelo autor oferecem resultados surpreendentes.
Uma delas foi realizada pelos psicólogos da Universidade de Columbia, Bibb Latané e Judith Roth, nos anos de 1960. Neste caso em particular, um participante entrava numa sala e era-lhe pedido que preenchesse um questionário. De seguida, um estranho entrava na mesma sala e era-lhe pedido para fazer a mesma coisa. Entretanto, a pessoa responsável pelo pedido saía da sala e, pouco tempo depois, ouvia-se o barulho de uma estante a cair lá fora e gritos agonizantes de alguém que supostamente teria ficado por baixo da estante. O que faríamos nesta situação? Não há dúvidas que ajudaríamos, certo? Bem, na verdade depende. Se o estranho na sala não fizesse nada, o mais certo é que o participante – que poderia ser qualquer um de nós – nada fizesse também para ajudar. E, na verdade, apenas 7% dos participantes tomaram a iniciativa de sair da sala na tentativa de ajudar a suposta pessoa em perigo.
Miller cita também a famosa “Experiência de Milgram”, realizada pelo psicólogo e professor na Universidade de Yale, Stanley Milgram, em 1963. As experiências levadas a cabo por Milgram tinham como principal objectivo o enfoque no conflito existente entre a obediência à autoridade e a consciência pessoal (intrinsecamente ligada ao carácter). Tendo como pano de fundo os nazis condenados, no Tribunal de Nuremberga, pelos seus actos de genocídio durante a segunda guerra mundial – e como ponto de partida a defesa dos mesmos que se baseava na ideia que se tinham limitado a obedecer a ordens – o psicólogo de Yale protagonizaria uma experiência que ainda hoje é tida como obrigatória para quem estuda a psicologia da obediência e, no caso de Christian Miller, a forma como “pessoas normais” podem ser verdadeiramente cruéis. Muito resumidamente, a experiência, com a duração de dois anos foi feita com centenas de pessoas que, voluntariamente, se ofereceram para fazer de “professores” de um “aluno”- da equipa do psicólogo – este último sentado numa outra sala e amarrado a uma cadeira de choques eléctricos. Os “professores” recitavam um conjunto de palavras e o “aluno” deveria repeti-las sem se enganar. Cada vez que surgia um erro, o “professor” tinha permissão para lhe ministrar choques, de intensidade crescente, começando com 15 volts (choque ligeiro) e aumentando-os até 450 volts (choque severo). Alguns dos voluntários (que eram pagos para fazer parte da experiência), horrorizados com o que lhes era pedido, abandonaram a experiência precocemente, desafiando a insistência do supervisor para continuarem; mas outros continuaram e chegaram a intensificar os choques até aos 450 volts, mesmo depois do “aluno” gritar por clemência. Na variação mais conhecida desta experiência, 65% dos “professores” voluntários cumpriram-na até ao fim.
Ambos os casos – seja a morte voluntária de uma pessoa inocente ou não fazer nada para ajudar alguém que grita de dores porque lhe caiu uma estante em cima – são muito pouco abonatórios para o carácter dos seres humanos.
Outras experiências demonstraram também não só um número vergonhosamente baixo de pessoas que se voluntariam para ajudar os outros com problemas simples como também, e talvez ainda mais grave e surpreendente que isso, que nas situações em que a ajuda pareceu louvável ou meritória, os voluntários aparentaram ser mais inspirados a ajudar devido a estímulos ambientais – como por exemplo o cheiro de um bolo acabado de fazer – do que por qualquer comportamento responsável neles enraizado (e sim, há várias experiências que comprovam este facto). Aliás, Miller assegura que vários “estímulos ambientais” como o cheiro, a temperatura e o barulho de fundo afectam consideravelmente o nosso comportamento.
A forma como Miller explora o mentir e o enganar dá-nos igualmente “food for thought”. Os estudos revelam uma frequência elevada de mentiras na vida de todo nós, mesmo que a nossa motivação para o fazer não seja sempre para servir os nossos interesses, podendo até ser um acto verdadeiramente altruísta.
Todavia, é no defraudar ou no enganar que os dados são mais surpreendentes. E, mais uma vez, o contexto ambiental pode ter uma extrema influência. Miller dá exemplos de como é menos provável mentirmos na presença de algo que nos recorde os nossos compromissos morais, seja uma aliança de casamento, um código de honra impresso ou, para os mais religiosos, uma cópia dos 10 Mandamentos.
O autor refere ainda outros estudos que comprovaram uma significativa redução de comportamentos desonestos em contexto escolar, não só, como acima referido, se aos alunos for mostrado o código de honra da escola ou da universidade mas, e principalmente, se estes se sentarem em frente a um espelho a fazer um exame. Miller argumenta que apesar de ser tentador fazer batota para o nosso próprio benefício, temos igualmente o desejo de parecermos moralmente correctos em relação a nós mesmos e aos outros. Como escreve, “com o espelho à minha frente, não tenho onde me esconder. Um espelho força-me a confrontar-me comigo mesmo e com as minhas acções, quer se queira, quer não. (…) E o mesmo acontece com o facto de nos recordarem os 10 Mandamentos ou a assinatura de um código de honra, e os efeitos dramáticos que isso tem. Simplesmente porque ambos tornam visíveis, para nós mesmos, as nossas crenças morais e a verdade é que desejamos viver de acordo com elas”.
Da dicotomia à melhoria
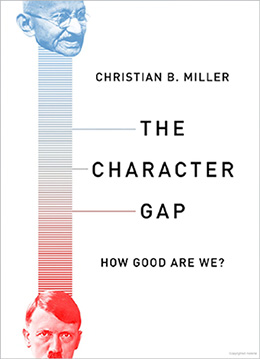 Quando nos deparamos, em particular com resultados das experiências acima mencionadas (as realizadas nos anos de 1960), a tentação natural é concluir que, afinal e no fundo de muitos de nós, reside uma enorme dose de crueldade e egocentrismo. Todavia, Miller assegura que devemos resistir a pensar desta forma. E porquê?
Quando nos deparamos, em particular com resultados das experiências acima mencionadas (as realizadas nos anos de 1960), a tentação natural é concluir que, afinal e no fundo de muitos de nós, reside uma enorme dose de crueldade e egocentrismo. Todavia, Miller assegura que devemos resistir a pensar desta forma. E porquê?
Porque na verdade existem também inúmeros estudos na área da psicologia que concluem que muitas pessoas se comportam generosamente e têm os requisitos necessários para poderem afirmar que têm, genuinamente, um bom carácter. E esta generosidade foi igualmente comprovada nas variações dos estudos em causa. Por exemplo, nos casos em que a experiência dos choques eléctricos não tinha presente nenhuma figura de autoridade, o nível médio dos choques infligidos foi muito baixo. O mesmo aconteceu na variação da experiência da sala e do estranho. Nos casos em que o estranho não estava presente, 70% dos participantes tomaram a iniciativa de ajudar a pessoa “que ficou debaixo da estante”. Miller cita ainda uma pesquisa feita pelo psicólogo Daniel Batson, da Universidade do Kansas, que concluiu seguramente que quando existe uma verdadeira empatia face ao sofrimento dos outros, a disponibilidade para ajudar é substancialmente maior, e é feita de forma completamente altruísta.
Depois de diagnosticar as vicissitudes dos nossos vícios e virtudes, de demonstrar quão complexos somos em diferentes contextos e como carregamos uma mistura de bem e mal, Miller explora algumas estratégias que nos podem a ajudar a melhorar o nosso carácter, sendo que umas são mais promissoras do que outras. O autor recomenda seguirmos bons modelos e exemplos morais, evitar situações nas quais sabemos que podemos ficar mais vulneráveis a falhas éticas e adquirir conhecimentos sobre as nossas tendências morais particulares, isto é, educarmo-nos sobre os tipos de circunstâncias que possam, mesmo que de forma inconsciente, afectar a nossa tomada de decisão.
Este aumento de conhecimento e consciência sobre nós próprios serve, segundo o autor, para nos colocar numa melhor posição de corrigir algumas falhas que tenhamos no nosso carácter. E, por exemplo, tendo em conta a experiência de só ajudar se o estranho tomar essa iniciativa, estudos mais recentes demonstram também que, numa experiência feita com alunos universitários em que, e face a uma emergência, apenas 25% se propuseram ajudar, a percentagem aumenta consideravelmente – para 42,5% – num grupo de controlo que, algum tempo antes da experiência, assistiu a uma palestra sobre a psicologia de grupos e a ajuda ao próximo.
Para além dos fundamentos filosóficos e científicos que Christian Miller consegue imprimir ao seu livro, a parte final é dedicada à hipótese de, e através da assistência divina, ser muito mais fácil desenvolver um bom carácter, elencando as rotinas e rituais que reforçam o almejar deste estado, em conjunto com a própria comunidade cristã.
E existe suporte empírico para a ideia de que a prática cristã melhora o carácter? Na verdade, sim. Miller cita vários estudos que correlacionam a ida regular à igreja com cerca de menos 50% de níveis de violência doméstica, com níveis elevados de donativos superiores em 350% e de voluntariado em 200% (comparativamente a quem não é cristão). O autor assegura que as pessoas religiosas são muito mais propensas a doar sangue, a ajudar os sem-abrigo e a expressar empatia face aos menos afortunados. E que a vida em comunidade – presente também noutras religiões – ajuda, de várias maneiras, a melhorar o nosso carácter. Nem que seja porque temos a preocupação de sermos aquilo que os outros pensam que somos.
Editora Executiva






























