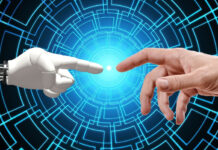|
Economistas dos países emergentes, da Europa e Estados Unidos falam do abismo entre a realidade e a relação de forças no FMI e no Banco Mundial e discutem a táctica de “mudar por dentro” estas organizações. A Europa é o bloco mais em cheque
Este afundamento da importância económica da então denominada “tríade” – Estados Unidos, Europa e Japão – foi compensado pela ascensão fulgurante das quatro novas potências emergentes, baptizadas por Jim O’Neill, da Goldman Sachs, com o acrónimo BRIC (para Brasil, Rússia, Índia e China), que saltaram de 15% para cerca de 27% do PIB mundial, e pelo disparo do crescimento em grande parte do antigo Terceiro Mundo. A própria expressão “Terceiro Mundo” lançada há quase 60 anos por Alfred Sauvy no jornal francês L’Observateur (edição de 14 Agosto de 1952) caiu em desuso. No plano geopolítico, a transformação foi, também, radical. Avaliando o peso geopolítico, com base em oito indicadores (que vão muito além do peso no PIB, que assinalámos acima), o momento de viragem ocorreu no final da década de 1990. O estudo de dois investigadores portugueses, Fernando Fonseca e Fernando Gonçalves, para o período entre 1994 e 2003 revela que o G7 (as sete economias mais avançadas do mundo) perdeu 31 pontos no seu peso geopolítico e os BRIC ganharam 36 pontos. Nessa década, a China subiu ao segundo lugar no mapa geopolítico ocupando o lugar da antiga União Soviética que implodira. O grupo que mais perdeu peso geopolítico foi a União Europeia. Uma outra mudança surpreendente é o papel exportador de capital de alguns dos gigantes emergentes, com destaque para a China que é, actualmente, o segundo maior exportador de capital do mundo e o maior credor da dívida norte-americana. Segundo o “Global Financial Stability Report” do FMI, entre os 13 maiores exportadores de capital em 2011 (últimos dados disponíveis divulgados em Abril de 2012) dois são BRICS (China, com 12,5% do total mundial de capital exportado e Rússia, com 6,3%), outros dois são “tigres” do Pacífico (Singapura e Taiwan) e quatro são exportadores de petróleo do Médio Oriente (Arábia Saudita, Kuwait, Irão e Qatar). No conjunto detêm 44,8% da exportação mundial de capitais. Nessa lista, a Alemanha alcançou o primeiro lugar em 2011, com 12,8%, ultrapassando a China por uma unha negra, e o Japão é o quarto (com 7,5%) tendo sido ultrapassado pela Arábia Saudita. Em relação a 2010, é de notar que houve uma redução muito significativa do peso relativo na exportação de capitais por parte da China (desceu de 20,1% para 12,5%) e do Japão (desceu de 12,9% para 7,5%). A China dispõe, também, das maiores reservas cambiais do mundo, com 3305 mil milhões de dólares, muito à frente do Japão que é o número dois, com 1288 mil milhões. No conjunto, os BRICS dispõem de 4500 mil milhões de dólares de reservas cambiais, quase cinco vezes mais do que as de todo o sistema da zona euro. No entanto, esta contabilidade trivial não teve tradução, ainda, nas duas organizações financeiras mundiais saídas dos acordos de Bretton Woods em 1944, o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial (BM). “O panorama geopolítico está em mudança. O FMI e o BM estão ainda atrasados para reconhecer a nova realidade e se ajustarem em termos de liderança e de regras”, resume Mark Thoma, professor na Universidade do Oregon, e autor de um dos blogues de referência norte-americanos, Economist’s View. E o ritmo de mudança que se verifica dentro dessas duas instituições é frustrante: “não satisfaz as expectativas dos países em crescimento”, afirma Hugo Dixon, editor da Reuters Breakingviews, em Londres. As duas instituições são “excessivamente ocidentalizadas” e “a sua forma de decidir está ainda controlada de um modo neocolonialista pelos EUA e por uma vagarosa Europa”, acentua-nos Shaun Rein, outro norte-americano que criou em Xangai a China Market Research nos anos 1990 e que é autor do livro “The End of Cheap China”. Por seu lado, Jayati Ghosh, professora de Economia na Universidade Jawaharlal Nehru, em Nova Deli, e fundadora da Fundação de Investigação Económica, é mesmo mais radical: “Essas duas instituições têm três défices: de relevância, de credibilidade e de confiança. Sem dúvida que a actual distribuição de quotas e de votos não faz sentido. Mas, para mim, a ideologia dessas duas organizações é o problema real”.
O problema chama-se Europa Muitos analistas acusam inclusive de ser a zona euro em apuros o destinatário da iniciativa de Christine Lagarde de pegar na sua malinha de mão chique para recolher financiamento para uma “almofada” de intervenção. Conseguiu 430 mil milhões de dólares (cerca de 325 mil milhões de euros), graças a uma larga fatia de 200 mil milhões de dólares por parte da própria zona euro e a uma contribuição generosa do Japão com um montante de 60 mil milhões. Os BRIC são citados em pé de página no comunicado sobre a recolha de fundos juntamente com “outros” com um contributo pouco superior ao japonês. Shaun Rein é mesmo mais cáustico: “A inabilidade da Europa em resolver os seus próprios problemas internos prova que não pode querer ensinar o resto do mundo. São precisas outras visões para ajudar a resolver os problemas actuais”. E Oliver Stuenkel, professor na Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, adverte os europeus: “Quanto mais tempo a Europa se recusar, mais perderá o próprio goodwill de que ainda dispõe entre as potências emergentes”. Mudar por dentro Mark Thoma, por seu lado, resume assim a táctica: “Eu julgo que a mudança por dentro é necessária e possível, mas tem de ser dirigida pela pressão de fora. Esta última é a força motivadora fundamental”. O professor francês Dominique Plihon, um dos líderes do manifesto europeu dos “Economistas Aterrados”, vai no mesmo sentido: “Duas estratégias devem ser complementares – a reforma por dentro, por um lado, e a criação de novas instituições regionais, por outro, como está em curso na América Latina e na Ásia”. A pressão por fora não é apenas de discursos e resoluções das cimeiras dos BRICS. “A própria proposta sobre um Banco dos BRICS ou as medidas alternativas no campo da política monetária – ainda que não totalmente separadas do FMI – sugerem que, a dado momento, se possam ter de equacionar estruturas alternativas”, afirma Bradlow. Curiosamente, Dirk Elsner, consultor alemão da INNOVECS e autor do blogue de economia Blik Log, não acredita nessa mudança por dentro: “Essa estratégia cimenta a estrutura de poder”. Um das linhas de “mudança por dentro” diz respeito à mudança do cabaz de divisas que suporta a unidade de conta do FMI, os direitos de saque especiais (DSE, SDR no acrónimo em inglês). Esse cabaz actualmente alberga o dólar, o euro, o iene e a libra. Stuenkel considera a inclusão da divisa chinesa, o yuan (ou renminbi), no cabaz como “um passo fundamental”. Mas Dirk Elsner acha o mecanismo dos DSE “demasiado opaco” para se transformar num sistema fiável. E a indiana Jayati Ghosh vai mais longe, considerando que “uma solução tecnocrática não vai funcionar”. E explica: “Uma solução como o ‘bancor’ – uma divisa mundial – proposta por Keynes nos anos 1940 ou usar os DSE como divisa global falhará se não for apoiada pelos países. A divisa internacional é um problema de poder internacional, não é um problema técnico”.
O calcanhar de Aquiles dos BRICS Aliás, sublinha Dominique Plihon, o entendimento entre os BRICS é ainda muito limitado. Esse parece ser o seu calcanhar de Aquiles. Uma das linhas de fractura, sublinhou esta semana Robert D. Kaplan, jornalista da revista norte-americana “Atlantic Monthly”, é a nova rivalidade geopolítica entre a China e a Índia que se alimenta das possibilidades trazidas pela alta tecnologia. E Michael Pettis, professor na Guanghua School of Management da Universidade de Pequim e autor do blogue de referência “China Financial Markets”, refere-nos: “É um erro assumir que os quatro BRIC querem o mesmo em termos de sistema global de governação. Há interesses de base diferentes: o Brasil e a Rússia querem preços altos das commodities, a China e a Índia querem-nos baratos. O Brasil anda em guerra contra o que chama de ‘guerras de divisas’, a China nem quer ouvir falar disso”. O fim do “Consenso de Washington”? Mark Thoma acha que o FMI e o BM têm aprendido com os erros. Os erros cometidos pelo FMI face às crises sucessivas dos anos 1990 na Europa de Leste, na América Latina e na Ásia quase lhe ditaram uma sentença de morte. O volume anual de empréstimos do FMI caiu brutalmente de cerca de 97 mil milhões de dólares em 2003 para 9,5 mil milhões em 2007. Muitas das vítimas dessas crises globais acabaram por levantar a cabeça, não em virtude dos programas do FMI, mas graças ao disparo nos preços das commodities que permitiu aos países em desenvolvimento exportadores acumular reservas em divisas, que, em 2008, atingiram o triplo das da “tríade” reunidas. Muitos países do “Sul”, como o Brasil, Argentina, Uruguai, Indonésia e Filipinas reembolsaram antecipadamente o FMI e esvaziaram o seu papel. O Fundo foi, ironicamente, salvo do gongue final pela crise das dívidas soberanas na zona euro a partir de 2009, regressando a um patamar anual acima de 120 mil milhões de dólares de fundos aplicados. O G20 na cimeira de Londres em Abril de 2009 deu-lhe a mão. Mas esta ressurreição está a ter um preço: o “Consenso de Washington”, que muitos designam por “cartilha neoliberal”, está a ser arquivado discretamente. Um estudo realizado por Susanne Lutz e Matthias Kranke, da Universidade de Berlim, mostra que as intervenções do Fundo na Letónia, Hungria e Roménia já impuseram condições mais “leves”. As contradições entre a equipa do FMI e os especialistas da Comissão Europeia e do Banco Central Europeu encheram o anedotário recente dos programas de resgate da Grécia, Irlanda e Portugal. Os guardiões do “Consenso” têm estado em Bruxelas e Frankfurt, mais do que em Washington DC, o que surpreendeu os sindicalistas e a esquerda nos países intervencionados habituados a gritar a plenos pulmões “Fora daqui FMI”. Aliás, Christine Lagarde, na reunião da Primavera realizada há duas semanas, já tentou criar uma nova etiqueta para a estratégia do FMI: o “Momento de Washington”. Jayati Ghosh, no entanto, não acredita apenas em palavras: “Mesmo quando aceitam os erros nos artigos científicos e na investigação dos seus quadros, ou nos discursos, depois, raramente, isso é reflectido no terreno”. Já quanto ao Banco Mundial, Shaun Rein é de opinião “que não tem aprendido nada com os erros, continua a ser excessivamente politizado”. Veremos se o novo presidente Jim Yong Kim muda a situação. Xu Hongcai, diretor do mais importante grupo de reflexão chinês, diz-nos que “está inclinado a pensar que é um novo começo histórico”. Jorge Nascimento Rodrigues é editor de www.gurusonline.tv, www.janelanaweb.com e geoscopio.tv. É igualmente Editor Executivo da Revista Portuguesa e Brasileira de Gestão e colaborador do semanário Expresso “Parte IV do estudo sobre os BRICS publicado no portal http://janelanaweb.com. Ampliado e actualizado de artigo publicado no semanário Expresso.” |
|||||||||
Valores, Ética e Responsabilidade