POR HELENA OLIVEIRA
A tomada de decisões em grupo acompanha a história da humanidade desde os seus primórdios. Primeiro no interior das famílias e das aldeias e depois nas empresas, governos, nos estabelecimentos de ensino, nas organizações religiosas ou em qualquer que seja o colectivo que tenha por missão o tomar de uma decisão.
E todos nós nos habituámos a crescer com a ideia de que duas cabeças pensam melhor do que uma só ou que se uma decisão é tomada no seio de um qualquer grupo, é porque a maioria assim o decidiu e, espera-se, o resultado a que se chegou só pode ser o mais eficaz, certo? Nem sempre. Na verdade, são inúmeras as decisões tomadas que resultam em erros profundos, muitas vezes difíceis de emendar, sendo que a “culpa” da ineficácia ou dos enganos, muitas vezes com sérias consequências, reside exactamente na dinâmica do grupo em causa.
Num livro verdadeiramente fascinante, escrito em co-autoria pelos professores Cass Sunstein, da Harvard Law School, e Reid Hastie, da Chicago Booth School of Business, os autores, com a ajuda do trabalho desenvolvido por cientistas comportamentais nos últimos 30 anos, dedicaram-se a perceber por que motivo os indivíduos fazem escolhas erradas e, em particular, por que razão os grupos não corrigem, antes agravam, os erros cometidos pelos seus membros. Em Wiser: Getting Beyond Groupthink to Make Groups Smarter, a primeira parte é dedicada a explicar, de forma clara e detalhada, os problemas distintos que podem surgir no interior de grupos variados. A título de exemplo, algumas das conclusões a que os dois professores chegaram no que respeita aos problemas distintos que estão patentes no interior dos grupos, são as seguintes:
- Na maioria das vezes, os erros individuais de julgamento são ampliados e não corrigidos;
- [os grupos] Acabam por ser vítimas do efeito de cascata, porque os seus membros seguem, sem questionar, o que a maioria diz ou faz;
- Tornam-se polarizados, adoptando-se posições mais extremistas comparativamente às ideias que constituíram, inicialmente, o ponto de partida da discussão em causa;
- Enfatizam o que toda a gente sabe em detrimento de se concentrarem em informação crítica ao dispor de apenas alguns.
Na segunda parte do livro, os autores apresentam métodos e tácticas para tornar os grupos “mais inteligentes”, entre as quais se destacam silenciar o líder para que os pontos de vista dos demais membros possam vir à superfície, repensar as recompensas e os incentivos de forma a encorajar as pessoas a revelarem o que realmente pensam e sabem, designar, de forma minuciosa, “papeis principais” que estejam alinhados com os pontos fortes de cada uma das pessoas em causa, entre várias outras.
O livro em causa dá o exemplo de organizações tão variadas como a CIA, a NASA, o governo norte-americano, os conselhos de administração de algumas das maiores empresas do mundo, e várias outras organizações, oferecendo razões mais do que suficientes que nos forçam a abrir os olhos e encarar os muitos enviesamentos, preconceitos, temores e até mesmo medos declarados que enfrentamos quando fazemos parte de um grupo e existem decisões a ser tomadas. Dedicado a todos, mas em especial aos gestores e executivos que passam a vida em reuniões que visam a tomada de decisão, o VER explora de seguida, a partir de um artigo assinado pelos autores para a revista Fortune, os cinco erros mais comuns no interior do pensamento de grupo, em conjunto com cinco soluções para evitar que problemas sérios ocorram.
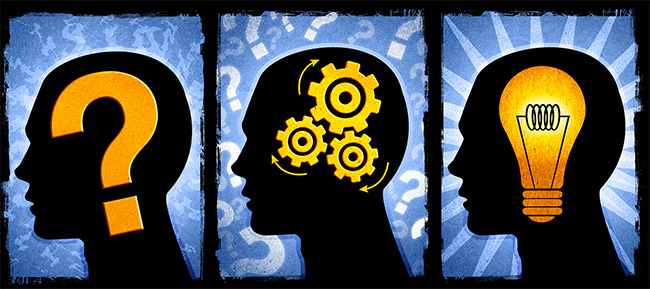
Cultura do pensamento crítico versus medo de represálias
Quando as pessoas optam pelo silêncio numa discussão de grupo, na maioria das vezes fazem-no porque pensam que as suas reputações poderão sofrer “arranhões” ou porque têm medo de sofrer represálias – e não recompensas – por revelarem informação que difere da posição da maioria. Para os autores e neste caso, o problema reside nas normas de grupo, comummente designadas como “seguir o rebanho”. Todavia e felizmente, as normas podem ser mudadas. Em experiências com vários grupos, afirmam Sunstein e Hastie, quando é dito às pessoas que o objectivo é “acompanhar os demais”, estas tornam-se muito menos dispostas a revelar o que sabem, comparativamente às ocasiões em que lhes é pedido que optem por um pensamento crítico. Este ponto aplica-se, no livro, a muitas organizações, incluindo o Departamento de Justiça norte-americano, a CIA e muitos conselhos de administração de grandes empresas. Os autores referem ainda que as empresas que melhor performance atingem são aquelas que possuem conselhos de administração “controversos” ou, por outras palavras, cujos membros estejam dispostos a “lutar” entre si, através de pontos de vista diversos e, muitas vezes, inversos.
Um dos exemplos eleito pelos dois professores recai sobre os clubes de investimento privados, os quais, na sua grande maioria, não primam por uma cultura que privilegie a “dissidência” e cujos membros são unidos por laços sociais coesos, o que resulta, muitas vezes, em grandes perdas de dinheiro. Em contraste, aqueles que melhores resultados obtêm por parte dos investimentos que fazem, beneficiam as normas que favorecem a partilha de informação “fresca”, mesmo que esta se desvie do consenso.
No interior das grandes empresas e nos governos, em regra, a “conversa feliz” – “está tudo bem” – predomina, a qual pode (e deve) ser contrariada por uma versão do estilo “agora digam-me alguma coisa que eu preciso de saber, mesmo que eu não tenha vontade de a escutar”. [a revista Time publicou um artigo, também assinado pelos autores, que explora em pormenor o fenómeno da “conversa feliz”.
Quando o silêncio inicial é de ouro
 Suponha que 10 pessoas precisam de decidir se devem ou não lançar um determinado produto. Suponha, também, que a maioria delas possui informação que sustenta fortemente o lançamento, mas que dois membros têm informação contrária, a qual comprova que o produto em causa será um fracasso. Décadas de estudos sugerem que é muito provável que este grupo vá em frente com o lançamento. E a razão para tal, de acordo com Sunstein e Hastie, reside no facto de os grupos serem amplamente influenciados pela informação (já) partilhada, ou seja, aquela que a maioria já possui. Desta forma, a informação que, inicialmente, é apenas conhecida por poucos membros, terá muito pouco impacto.
Suponha que 10 pessoas precisam de decidir se devem ou não lançar um determinado produto. Suponha, também, que a maioria delas possui informação que sustenta fortemente o lançamento, mas que dois membros têm informação contrária, a qual comprova que o produto em causa será um fracasso. Décadas de estudos sugerem que é muito provável que este grupo vá em frente com o lançamento. E a razão para tal, de acordo com Sunstein e Hastie, reside no facto de os grupos serem amplamente influenciados pela informação (já) partilhada, ou seja, aquela que a maioria já possui. Desta forma, a informação que, inicialmente, é apenas conhecida por poucos membros, terá muito pouco impacto.
Assim, defendem, os líderes poderão prestar um enorme serviço aos grupos se enfatizarem o seu desejo de escutarem todos os pontos de vista, incluindo as opiniões divergentes, antes de proferirem a sua “sentença”. Se os gestores seniores forem genuinamente inquisitivos, terão probabilidades muito maiores de saberem aquilo que realmente pretendem saber. Os líderes podem, e devem, recusar-se a declarar um ponto de visto no inicio da discussão, criando espaço para que outros possam partilhar os seus pensamentos de uma forma mais livre. Esta estratégia, na qual, segundo os autores, Franklin Roosevelt era mestre, tem vindo a ser utilizada pelos mais recentes responsáveis da Reserva Federal, tal como Alan Greenspan e Ben Bernanke, os quais pediam sempre relatórios aos seus comités consultivos antes de revelarem as suas próprias preferências.
Nas empresas e nos governos, este silêncio inicial pode ser mesmo de ouro, especialmente para aqueles que têm funções executivas ou para os altos funcionários governamentais.
Centrar o sucesso no colectivo e não no individual
 Geralmente, os membros de um grupo não revelam aquilo que sabem (ou que pensam) porque acreditam que não beneficiarão pessoalmente se o fizerem. O seu calculismo racional argumenta a favor do silêncio. Todavia, as organizações só teriam a ganhar se alterassem os seus incentivos, recompensando o sucesso do grupo, e não o de uma pessoa em particular. Nas equipas militares, toda a gente é castigada se um único membro da equipa falhar, ao mesmo tempo que as recompensas são oferecidas ao nível de toda a equipa. Comprovadamente, este método consegue produzir excelentes performances, em conjunto com uma enorme lealdade.
Geralmente, os membros de um grupo não revelam aquilo que sabem (ou que pensam) porque acreditam que não beneficiarão pessoalmente se o fizerem. O seu calculismo racional argumenta a favor do silêncio. Todavia, as organizações só teriam a ganhar se alterassem os seus incentivos, recompensando o sucesso do grupo, e não o de uma pessoa em particular. Nas equipas militares, toda a gente é castigada se um único membro da equipa falhar, ao mesmo tempo que as recompensas são oferecidas ao nível de toda a equipa. Comprovadamente, este método consegue produzir excelentes performances, em conjunto com uma enorme lealdade.
Ou, por outras palavras, as pessoas estarão muito mais dispostas a revelar o que sabem quando sentem que têm tudo a ganhar através de uma decisão correcta do grupo. Ao invés, se os membros de um grupo se concentrarem apenas nas suas próprias perspectivas, em vez das do grupo, a tendência para errar é muito maior.
Dar a César o que é de César ou saber que papel pertence a quem
Imagine um grupo composto por pessoas com papéis específicos que são reconhecidos e apreciados por todos os seus membros. Uma pessoa pode ter competências médicas, outra pode ser advogada, uma terceira pode ser especialista em relações públicas e uma quarta ter competências na área da estatística. Um grupo com estas características tem maiores hipóteses de receber a informação de que precisa simplesmente porque cada um dos seus membros sabe, de avanço, que todos os outros têm um contributo especial para oferecer.
De acordo com os autores, são muitas as experiências que sustentam esta hipótese. Num estudo em particular, a cada um dos membros de um grupo foi dada um conjunto extenso de informação independente sobre um de três suspeitos de homicídio. Numa metade do grupo em causa, a “especialidade” específica de cada um dos membros foi publicamente identificada para todos antes do início da discussão. Na outra metade, a identificação das competências específicas não foi revelada. O resultado foi que o enviesamento no que respeita à informação partilhada foi dramaticamente reduzido nos grupos em que os especialistas foram publicamente identificados.
De acordo com os autores, a lição é clara: se um gestor pretende saber o que vai na cabeça das pessoas que fazem parte da sua equipa de trabalho ajuda, e muito, conferir a cada uma delas papeis distintos e avisar os demais, antes do período de deliberação, que todos possuem informação distinta e relevante que contribui para a discussão.
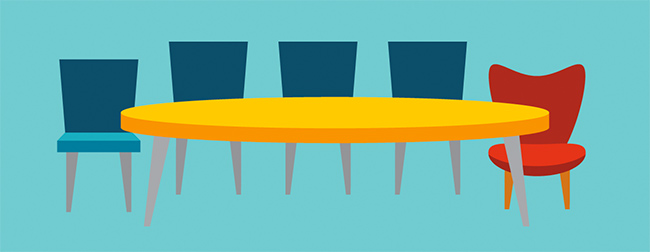
Nomear um “adversário” ou o fenómeno das “equipas vermelhas”
São muitos os grupos que elegem o conceito de “advogado do diabo” ou que designam um membro para interpretar o “papel da discórdia”. Todavia, Sunstein e Hastie afirmam que as evidências sobre a eficácia deste método não geram consenso. A razão desta desconfiança prende-se, em grande escala, com o facto de o “advogado do diabo” em causa poder não ser sincero e/ou honesto o suficiente, o que enfraquece o método. Uma estratégia mais eficaz envolve a “equipa vermelha”, a qual mais não é do que o conceito de “advogado do diabo” ampliado. Na formação militar, as equipas vermelhas encarnam o papel do “inimigo” ou da equipa adversária e tentam, genuinamente, derrotar a equipa “primária” em missões simuladas. Numa outra versão, à equipa vermelha é pedido que construa um argumentário o mais forte possível contra uma proposta ou plano apresentado. As versões de ambos os métodos são utilizadas não só em ambientes militares, como em muitos organismos governamentais, incluindo na revisão dos planos de missões da NASA, onde esta prática é por vezes apelidada de “murder board”: uma espécie de “comité de interrogadores” cuja missão é rever, de forma crítica e agressiva, sem quaisquer constrangimentos ou cortesias, uma situação problemática, os seus pressupostos, a mitigação de riscos e a solução proposta.
As firmas de advogados têm uma longa tradição na utilização desta estratégia, testando argumentos em casos complexos através do equivalente a “equipas vermelhas”. Nos seus casos mais importantes, algumas destas firmas pagam a advogados de outras firmas para desenvolverem e apresentarem o “seu” caso contra elas mesmas. O método é especialmente eficaz no mundo do Direito, na medida em que os litigantes são naturalmente combativos e acostumados a argumentar uma posição que lhes foi designada. Obviamente que a intenção é perceber as fraquezas do “outro lado”, o que leva muitas vezes a acordos que conseguem evitar os custos impressionantes inerentes ao perder de um caso em tribunal.
Os autores defendem fortemente que este mesmo método pode ser extremamente útil e eficaz tanto no sector privado, como no público: muitos erros dispendiosos poderão ser evitados através das “equipas vermelhas”.
Em suma, é crucial que todos os líderes “abanem” as suas pessoas sem complacência, que obtenham informações “escondidas” ou não reveladas e que se comprometam seriamente a combater a denominada “conversa feliz”. Como asseguram os próprios autores, as cinco abordagens propostas produzirão grupos menos animados e felizes, mas significativamente menos propensos a erros que podem ser fatais para toda a organização.
Editora Executiva



































Muito interessante e até urgente de discutir o tema geral. Ausência de espírito de sentido crítico, achando-se que no conflito vem algo de mau quando é no conflito que as ideias fluem e se percebe se algo tem para evoluir e só assim evoluiu.
Comentários estão fechados.