POR HELENA OLIVEIRA
Estudar arduamente na escola, ter boas notas, estar envolvido numa actividade comunitária, procurar uma boa universidade, candidatar-se a empregos na área de estudos em que se especializou. Esta é, na teoria, a receita convencional, baseada no mérito, para se ter sucesso. Mas não em todo o lado, como sabemos, e muito menos nos Estados Unidos, a outrora denominada terra de todas as oportunidades, mas que tem vindo a somar pontos, todos os anos, nos recordes da desigualdade. E um excelente, apesar de preocupante, exemplo disso é a forma como as empresas de elite – as consultoras, a banca de investimento e as grandes firmas de advogados – recrutam os seus futuros empregados, gastando milhões em acções de charme para com os recém-licenciados, desde a eventos específicos ou a jantares, por exemplo, sendo contudo mais sedentos de candidatos que se “ajustem” e perpetuem a boa velha maneira de fazer as coisas do que propriamente de mentes brilhantes que possam ousar alterar o status-quo. E, mais importante que tudo, que estes candidatos sejam proveniente do que em Portugal se chama comummente de “boas famílias”.
Como escreve Lauren A. Rivera, Professora de Gestão na Kellogg School of Management, num livro publicado recentemente, adequadamente intitulado Pedigree: How Elite Students Get Elite Jobs , o caminho mais directo para o sucesso é o seguinte: nascer, no mínimo, numa classe média alta; ser filho de pais endinheirados; saber que ambientes académicos devem frequentar desde os últimos tempos da educação secundária – conhecimento esse adquirido a partir dos seus progenitores “bem-educados” e de conselheiros académicos com pouco que fazer; envolver-se, precocemente, em desportos competitivos da preferência das elites, como o lacrosse, o ténis, a vela, o ski ou o golfe – basquetebol nem pensar – e, por fim, preparar-se bem o suficiente para entrar numa universidade de elite. Na altura de se procurar o “bom emprego”, o candidato deve igualmente saber na ponta da língua não o que aprendeu nos bancos das prestigiadas e caríssimas universidades que frequentou, mas as boas regras de etiqueta dos ambientes de elite.
Lauren Rivera passou a última década a estudar as formas de recrutamentos dos colossos empresariais – os quais são denominados como a “Santíssima Trindade” e que englobam as mais reconhecidas consultoras, as instituições financeiras de Wall Street e as grandes firmas de advogados – e, ao longo de nove meses, esteve “infiltrada” no departamento responsável pelo recrutamento de uma firma de serviços profissionais de elite (EPS, na sigla em inglês, para ‘elite professional firm services’) onde participou no processo de planeamento, na execução dos eventos de recrutamento, interagindo com os candidatos, fazendo o balanço subsequente com os avaliadores depois de feitas as entrevistas, e tendo feito parte, inclusivamente, de um grupo de deliberação sobre os mesmos.
Criada no meio da classe trabalhadora de Los Angeles por uma mãe solteira imigrante, enquanto o pai estava preso, Rivera só foi capaz de entrar nestes ambientes “só para alguns” devido à sua própria experiência de ter frequentado – como poucos da sua “classe” – escolas igualmente elitistas. Mas afirma ter sido bem “investigada” quando se propôs fazer este estudo de caso pelos membros da firma em questão, que só depois de terem a certeza que era “uma de nós”[ou melhor, deles] aceitaram serem entrevistados para o estudo.
Apesar de os americanos serem ensinados a acreditar que a mobilidade de “ascensão” é possível a qualquer pessoa que esteja disposta a trabalhar arduamente, independentemente do seu status social, a verdade é que na esmagadora maioria das vezes quem tem acesso aos melhores empregos provém de um background significativamente influente. E o seu livro explica exactamente o que acontece nos bastidores das “melhores empresas para se ganhar dinheiro”: não só em cada fase do processo de recrutamento, como no que respeita às formas utilizadas pelos empregadores para definir e avaliar o mérito, as quais favorecem significativamente os candidatos originários de ambientes economicamente privilegiados. A professora de gestão da Kellogg revela igualmente de que forma os decisores concebem as suas ideias sobre talento – o que é, o que melhor o assinala e quem o tem (ou não tem) – as quais são profundamente enraizadas tendo como base a classe social. A exibição “do que é considerado certo” por estes empregadores elitistas acarreta quantidades consideráveis de recursos económicos, sociais e culturais por parte dos candidatos. E dos seus ascedentes, é claro.
De acordo com um artigo publicado na revista Economist, a “Santíssima Trindade para os trabalhadores de colarinho branco” é responsável pelo recrutamento de um terço dos licenciados das melhores universidades do mundo. Começam por oferecer salários anuais superiores a 100 mil dólares, em conjunto com a oportunidade de estes se multiplicarem facilmente. Complementarmente, são ainda responsáveis por oferecer o “salto” necessário para situações ainda melhores. A famosa firma de consultoria McKinsey afirma que mais de 440 dos seus alumni gerem, actualmente, negócios com receitas anuais de pelo menos mil milhões de dólares e as fileiras de topo dos governos e dos bancos centrais estão povoados por veteranos da Goldman Sachs.
Estes dados parecem ser suficientes para desafiar as mais optimistas crenças no que respeita ao ensino universitário ser caracterizado por igualdade de oportunidades e o mercado ser frequentado por quem mais mérito possui. Na verdade, o livro de Lauren Rivera expõe, de forma crua, os preconceitos de classe predominantes numa América que é comummente elogiada por escolher os melhores e os mais brilhantes mas, que no seu âmago, elege o status social como factor predominante, e determinante, para quem deseja chegar (e ali se manter) ao topo da escada económica.
Todavia e se é verdade que os empregos “de elevado rendimento” parecem estar apenas ao alcance de um pequeno grupo de jovens da elite que frequentaram universidades conotadas com excelência académica, selectividade nas admissões e elitismo social – no caso da pesquisa de Rivera, as oito instituições que compõem a famosa Ivy League norte-americana (Brown University, Columbia University, Cornell Universitý, Darmouth College, Harvard University, University of Pennsylvania, Princeton University e Yale University) e também as britânicas Oxford e Cambridge, até para os jovens de “boas famílias” o processo de recrutamento não é imediato, obedecendo a regras específicas, mas sempre partindo da palavra-chave que, neste caso, é o mesmo o pedigree: o conjunto de traços inerentes ao seu background, que inclui o capital cultural, social e educacional transmitidos de geração em geração. Todavia e apesar de tudo, as regras que rodeiam o pedigree têm vindo a mudar com as gerações, sendo os mecanismos de recrutamento, teoricamente, mais indirectos.
Como escreve Rivera, outrora, a busca por talento jovem para preencher as mais importantes e mais bem remuneradas posições tinha meramente como base a origem e a passagem do poder económico familiar de uma geração para outra. Actualmente, de acordo com a autora, as elites modernizaram as regras de entrada. Em vez de uma linhagem de sangue explícita constituir o factor determinante, a noção tendenciosa relativamente às elites é interpretada apenas como o resultado racional da meritocracia no trabalho. Ou seja, como explica, na mesma medida em que as instituições de ensino elitistas argumentam que apenas admitem estudantes com base no seu talento cognitivo, também os empregadores elitistas asseguram que as práticas de contratação extremamente competitivas conduzem aos melhores e mais brilhantes trabalhadores. O que não é, de todo, verdade.
Adicionalmente, estas práticas de recrutamento com base na “classe social” a que os candidatos pertencem não aconteceriam se o tipo de empresas em questão não tivessem atingido o nível de status, poder económico e influência de que actualmente gozam nos círculos “que interessam” na América. Este “ciclo virtuoso de reprodução” de elites tem ainda uma outra consequência: o facto de os estudantes ficarem tão encadeados com o brilho que advém das grandes firmas “tradicionais” que acabam por ignorar oportunidades em outro tipo de carreiras. Como assegura a autora, só em Harvard, mais de 70% dos alunos pertencentes a uma determinada turma candidatam-se a lugares nas firmas de consultoria ou na banca de Wall Street. O que contribui, claramente, para mais uma perpetuação do “pedigree” nas posições de liderança. Rivera cita igualmente pesquisas variadas que comprovam que a América é única, comparativamente a outras nações avançadas, na forma como exacerba o poder e prestígio da alma mater de cada um, e em nenhum outro país se assiste ao facto de o potencial para posições de liderança estar tão intimamente relacionado com a instituição de ensino onde se cumpriu o percurso académico.
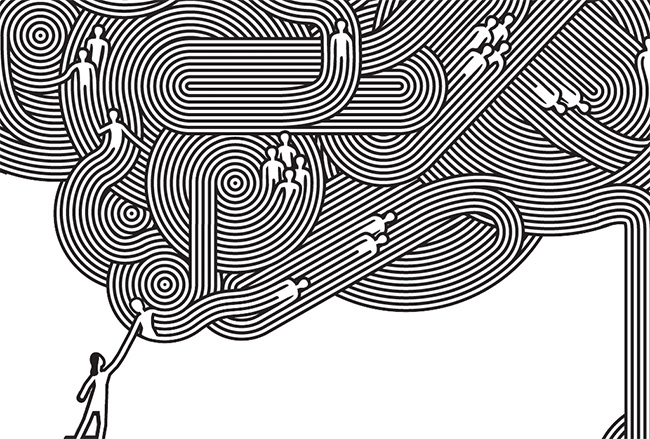
E o que conta não é o que se conhece, mas quem se conhece
Apesar de tudo e como explica o Economist, que afirma que apesar das boas intenções do livro em demonstrar a persistente desigualdade em termos de acesso à (boa) educação e aos (bons) empregos, o mesmo acaba por ser um excelente guia para que os estudantes pertencentes às elites consigam assegurar o passaporte para as instituições igualmente elitistas – as quais têm realmente um processo de selecção exigente mesmo para os que mais pedigree ostentam. Ou seja, não é propriamente fácil passar a pertencer a este clube.
A verdade é que existem regras básicas que têm de ser cumpridas e a primeira está directamente relacionada com quem fica responsável pelo processo de recrutamento. Ao contrário do que é normal, não é o departamento de recursos humanos que fica com esta tarefa em mãos, mas antes o pessoal habituado a gerar grandes receitas para as firmas em causa. A ideia é descobrir, no meio de tanta oferta de candidatos, aqueles que melhor se assemelham a si mesmos – um fenómeno identificado como o mérito da “visão de espelho”, o qual serve para perpetuar o ciclo “virtuoso” da reprodução das elites.
Ser “um de nós” é particularmente importante para se obter o cartão de visita necessário para passar os portões de uma destas firmas elitistas, especialmente quando os recrutadores não perdem mais do que 60 segundos a ver um CV. Ou seja, e aproveitando uma reminiscência darwinesca, o que interessa são os que melhor “se adaptam” ao ambiente do “como nós” e não propriamente os que poderão revolucionar qualquer processo devidamente arrumadinho na boa velha maneira de fazer as coisas. Na sala de entrevistas, os recrutadores comportam-se de forma previsível: seguem sempre o mesmo guião, fazem algumas perguntas pessoais e apresentam um problema relacionado com o trabalho que os candidatos têm de resolver. E, no meio deste entediante processo, os entrevistadores precisam de ser “despertos”, sendo a melhor forma para o conseguir beber – e saber demonstrá-lo – todas as suas palavras e elogiar a sua auto-imagem como “ a melhor das melhores”, bem como a da empresa em causa, obviamente. Um outro comportamento decisivo que os recrutadores esperam dos seus candidatos é que estejam dispostos a trabalhar até tarde, a comparecerem, de forma constante, em jantares de trabalho e até a manterem-se juntos nos aeroportos quando se encontram para viagens de negócios.
Os recrutadores asseguraram também a Rivera que procuram pessoas que, para além de colegas, possam ser também seus amigos, caracterizando a firma em causa como uma “fraternidade de pessoas inteligentes”. Para se ir bem preparado para o processo de recrutamento, convém ter amigos no “terreno” que ensinem o mais que puderem sobre a cultura da empresa, em conjunto com as suas intrigas internas. Um candidato contou a Rivera que passou na fase da entrevista adoptando a “personagem” de um consultor bem-sucedido que conhecia no interior da mesma. E, alerta a autora, importante mesmo é não parecer, de forma alguma, um “nerd “ ou um excêntrico (estes têm o seu lugar devidamente reservado nas empresas de tecnologia, com uma cultura completamente diferente das da “Santíssima Trindade”). A prevalência do estilo “old-fashioned” continua a constituir a melhor forma de ajustamento à cultura vigente, sem esquecer a importância dos desportos de elite que devem ser mencionados como actividades preferidas e frequentadas.
E todas estas boas regras de etiqueta acabam por merecer a seguinte conclusão de Rivera: se a ênfase no estilo e não na substância parece ser uma forma absurda de se ser selecionado para empregos de elite, por que motivo é que consultoras, instituições financeiras e firmas de advogados insistem neste predicado? Porque aqueles que povoam o topo destas firmas sabem que o bem mais valioso em tempos de incerteza não é o capital intelectual, mas a auto-confiança. Ou seja, quando ouvimos a velha conversa de que o mundo está a ser dominado por uma “elite cognitiva”, nas verdade esta aparenta ser nada mais do que uma “elite confiante”.
Uma última constatação, que não nós é, de todo, estranha: no fundo, o que mais conta não é o que se conhece, mas quem se conhece.
Editora Executiva



































