POR HELENA OLIVEIRA
Chegou Setembro, com o habitual regresso às aulas e ao trabalho, sendo que para muitos jovens a estreia na rentrée é também o início de uma nova vida nos bancos das universidades ou nas cadeiras com rodinhas que povoam os ambientes laborais. Para uns e para outros, a expectativa será a de subir novos degraus na existência, com sonhos de um futuro melhor e de uma “boa vida”, pois o futuro quer-se promissor.
Apesar de nunca ter deixado de existir, ou pelo contrário, face aos “progressos” que se têm vindo a alcançar em inúmeras esferas, a desigualdade é, mais do que nunca, um tema em foco. “Em que pé está a igualdade” é, por exemplo, a “questão social” escolhida pela Fundação Francisco Manuel dos Santos para a sua conferência anual, a ter lugar no próximo dia 30 de Setembro, depois da apresentação, ao longo de todo este ano, de estudos e ensaios variados sobre a mesma no nosso país. Como sublinha Carlos Farinha Rodrigues, professor do ISEG e autor do estudo “Desigualdade do Rendimento e da Pobreza em Portugal”, “apesar da diminuição dos rendimentos ter tocado, em geral, todos os portugueses, a perda não atingiu da mesma maneira os mais pobres e os mais ricos. E se olharmos para as idades, foram os mais jovens que sentiram uma quebra mais intensa. Um maior nível de escolaridade não foi suficiente para evitar também uma perda entre quem tem ensino superior”.
É exactamente neste ponto, ou aproveitando-o, que versa o artigo que se segue. Basta ter estado atento aos ambientes estivais – de que são bons exemplos as praias, esplanadas e restaurantes algarvios – para se perceber como são tantos os jovens que, e apesar de conseguirem chegar aos corredores universitários, sentem o peso da sua “classe” no que respeita a serem menos iguais que os outros. Ou seja, a mobilidade social não está, de todo, garantida para os que não nascerem em berço de ouro ou de prata – a metáfora normal para a classe alta e a classe média (mesmo que esta se subdivida em várias outras categorias) – e não é o esforço, a inteligência, as boas notas, a resiliência e outras competências positivas que garantem que a vida para um universitário proveniente da “classe trabalhadora”, ou para um trainee numa grande empresa, seja fácil e o “sucesso” garantido”. Pelo contrário.
[quote_center]São múltiplos os estudos que asseguram que a “mobilidade ascendente” não é igualmente atingível independentemente do meio social onde se nasceu e cresceu[/quote_center]
São múltiplos os estudos que asseguram que a “mobilidade ascendente” não é igualmente atingível independentemente do meio social onde se nasceu e cresceu. E deixando de lado as questões mais óbvias desta “luta de classes”, a verdade é que a promessa e o direito do “ensino para todos” não se traduzem em “oportunidades para todos”, nem na universidade nem nas empresas, o que acaba por se traduzir também numa “desigualdade institucionalizada”.
Desde as possibilidades de Erasmus, aos cursos de especialização, passando pelas conferências – cada vez mais pagas e bem pagas a peso de ouro – já sem falar nas viagens ou nas redes de contactos proporcionadas pelos pais, um jovem que nasceu num meio mais “baixo” NÃO tem as mesmas oportunidades que um outro que tenha nascido mediante condições mais “auspiciosas”. E se a ideia é lutarmos por uma sociedade em que este “acesso” tem de ser para todos, não é preciso sair do nosso pequeno Portugal para facilmente observar que, por muito que se diga, o acesso ao “sucesso” não está democratizado. Ponto final.
A verdade é que esta incapacidade de, apesar de se ter um “curso universitário” ou uma profissão numa “grande empresa”, conseguir-se “ascender socialmente”, é muito mais comum do que o seu contrário. Nicole Stephens, professora e investigadora na Kellog School of Management, pertencente à Northwestern University, tem dedicado uma grande parte da sua carreira a estudar os mecanismos que perpetuam a “imobilidade” em termos de ascensão de classe. E a sugerir estratégias, tanto por parte das universidades como dos locais de trabalho, para minimizar esse fosso continuo entre os que tiveram a sorte de nascer com sorte em detrimento dos que não a tiveram.
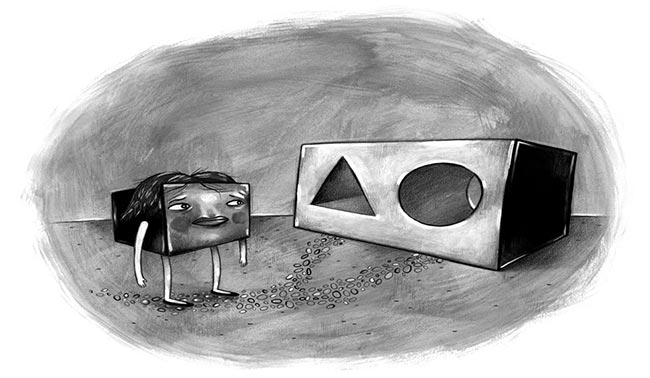
O desconforto dos desajustados
Num longo artigo publicado em 2005, e citado pela investigadora da Kellog, narra-se a história de uma advogada que, mesmo depois de longos anos a trabalhar nos circuitos “elitistas” da sociedade, nunca se conseguiu integrar ou soltar-se da “sua pele” pobre nascida nos Montes Apalaches e pertencente a uma família da classe trabalhadora dos mineiros. A verdade e como confessa nesta peça é que, e apesar de ser uma bem-sucedida advogada, continuava, tantos anos depois, a sentir-se uma “outsider” nos circuitos sociais que frequentava em conjunto com os seus colegas.
Como refere Nicole Stephens, este sentimento é absolutamente comum em pessoas que, vindas de um meio pobre, e mesmo ascendendo em termos académico e materiais, nunca conseguem, efectivamente, sentir-se bem e à vontade em contextos não condizentes com o seu background social. Na verdade, existem múltiplas pesquisas que demonstram que o background em termos de classe social (e mesmo que o termo pareça estar em desuso) – definido pelo nível de instrução, rendimentos e ocupação dos pais – continua a moldar a experiência destas mesmas pessoas mesmo depois da entrada num ambiente académico superior e ao longo da carreira profissional. E é sobre o papel destas mesmas instituições – universidades e empresas – que Stephens tem também conduzido as suas pesquisas.
[quote_center]Tee ou não ter recursos ao longo do tempo molda a percepção que as pessoas têm de si mesmas, de quem são e de como devem interagir com os outros[/quote_center]
Num artigo publicado na Harvard Business Review e no seguimento da publicação de um dos seus vários estudos sobre o tema, a investigadora explica que esta “navegação desajustada” que se faz nas universidades e empresas deve-se ao facto de os backgrounds sociais e culturais terem um enorme impacto nas experiências das diferentes “classes” quando iniciam as suas vidas independentes, tanto enquanto estudantes como enquanto profissionais, o que pode fazer a diferença entre “alcançar o seu máximo potencial” ou não. E tudo isto porque “classe social” significa muito mais do que os recursos financeiros proporcionados por um bom nível académico ou por uma ocupação de prestígio. Ou seja, ter ou não ter recursos ao longo do tempo molda a percepção que as pessoas têm de si mesmas, de quem são e de como devem interagir com os outros. E está também intimamente relacionada com valores diferentes que definem cada um dos estratos sociais.
A professora da Kellog Business School cita várias das suas pesquisas que comprovam esta realidade. A primeira está relacionada exactamente com a forma como as pessoas se vêem enquanto espelho da “classe” em que nasceram e foram criadas. Para a investigadora, as pessoas provenientes de meios sociais pobres tendem a perceber-se a si mesmas como interdependentes e extremamente ligadas aos outros. “Os pais ensinam aos filhos a importância do cumprimento das regras e do ajustamento às necessidades dos outros, em parte porque não existe qualquer rede económica que possa servir de apoio caso as coisas corram mal”, escreve, acrescentando ainda ditados comuns que caracterizam bem os ambientes de menores rendimentos – como “não podes ter tudo o que queres” ou “nem tudo tem a ver contigo” – os quais continuam a ecoar nas mentes de quem os escutou durante muito tempo. Adicionalmente, a professora da Kellog sublinha ainda os valores que maior importância parecem ter nas famílias da classe “trabalhadora”: a solidariedade, a humildade e a lealdade.
[quote_center]As “marcas” do desajustamento social não se dissipam nem na universidade nem no local de trabalho[/quote_center]
Já no que respeita aos contextos em que vivem as classes média e alta, afirma também a investigadora, que estes se percepcionam a si mesmos como “independentes e separados dos demais”. Os pais ensinam aos filhos a importância de cultivarem as suas preferências, necessidades e interesses pessoais, com os ditados comuns a incluírem “o mundo é a vossa ostra” – que transmite a ideia de que se está na posição de aceitar e tomar partido de todas as oportunidades que este tem para oferecer – em conjunto com “a tua voz interessa”, o que contribui para a partilha de valores como a singularidade, a auto-expressão e a influência.
Num outro estudo desenvolvido em parceria com a Universidade de Stanford, que visa exactamente analisar os ciclos culturais das classes sociais e as formas como estes moldam as personalidades e estimulam ou perpetuam a desigualdade, Stephens explica melhor estes conceitos.

O peso da herança cultural e social
No seguimento de um vasto corpo de pesquisa utilizado como ponto de partida para este estudo em particular, Stephens e os seus dois colegas pertencentes ao departamento de psicologia e gestão da Universidade de Stanford, identificam dois modelos comuns do “self” que conferem diferente s “esquemas” sobre a forma como as pessoas se relacionam com os outros, com o mundo social no geral e, mais especificamente, com a noção de “competência”.
O primeiro modelo – que caracteriza as classes média e alta – e denominado como “independente” assume que a “pessoa normativamente adequada” deverá influenciar o contexto em que vive, ser distinto dos demais e agir com liberdade tendo apenas como base os seus motivos, objectivos e preferências pessoais. Já o modelo interdependente do “self”, comum às classes de baixos rendimentos, assume que em termos normativos, a pessoa em causa deverá ajustar-se às condições existentes no seu contexto de vida, e não estar apenas “ligada” aos outros, mas também responder às necessidades, preferências e interesses “alheios”.
[quote_center]São muitos os jovens que depois de terem terminado o seu percurso académico e já mesmo com alguns anos de actividade profissional, reportaram uma ausência de pertença social e de capital cultural comparativamente aos seus pares[/quote_center]
Ora, para se compreender de que forma a classe social “estrutura” estes modelos de “self” e de competência, é necessário analisar os recursos materiais – rendimento e acesso a uma educação de elevada qualidade – e os recursos sociais – por exemplo, os relacionamentos com a família e com os amigos – existentes nos contextos próprios de cada classe social. Estas condições são extremamente importantes porque configuram os padrões de pensamento, os sentimentos e as acções na “vida lá fora”.
Nos contextos das classes médias, e sem surpresa, as pessoas têm mais capital económico, menos constrangimentos ambientais, mais poder e status e maiores oportunidades de escolha, influência e controle quando comparadas às pessoas nascidas e criadas em contexto de maior pobreza e vulnerabilidade. As primeiras tendem igualmente a gozar de níveis mais elevados de mobilidade geográfica, dada a necessidade (e possibilidade) de saírem de casa para ir estudar em universidades “elitistas” e para perseguirem subsequentes oportunidades de carreira.
Em Portugal, e de regresso ao início do texto, é fácil ver esta desigualdade: nem todos os alunos têm a possibilidade de ir para fora fazer programas de Erasmus – e mesmo os que têm “alguma”, são obrigados a escolher os países mais “baratos” – e o mesmo acontece com mestrados e/ou doutoramentos ou cursos de especialização em universidades reconhecidas, já para não falar da rede de “bons contactos” que lhes permitem encontrar um “bom emprego” mais facilmente.
Mas e de regresso ao estudo, os autores defendem que estas realidades materiais promovem práticas de socialização que transmitem às crianças um sentimento de auto-importância e de “elegibilidade” ou de “ter direito a…”. Por exemplo, escreve Stephens, os pais envolvem-se e esforçam-se criteriosamente para cultivar, identificar e trabalhar as preferências, ideias e opiniões dos seus filhos, sendo através deste envolvimento que transmitem a mensagem de que o mundo está nas suas mãos e que a sua “voz” interessa. Em resposta a estas condições materiais e sociais, os indivíduos da classe média – e também da alta – possuem amplas oportunidades para influenciar as situações a seu favor, de acordo com as suas preferências, para desenvolver a confiança e um sentido de optimismo e que lhes permite expressar as suas ideias e opiniões. O que irá ajudar sobremaneira no futuro dos filhos.
[quote_center]Apesar de algumas universidades já terem reconhecido a dificuldade de adaptação dos alunos mais economicamente fragilizados, a questão da “classe de origem” é ignorada na maioria das empresas[/quote_center]
Por seu turno, no contexto das classes trabalhadoras, que promove modelos interdependentes de “self”, as pessoas têm menor acesso ao capital económico, confrontam-se com maiores confrangimentos ambientais, são expostas a riscos e a incertezas e têm muito menos oportunidades de escolha, influência e de controlo comparativamente aos seus pares das classes mais elevadas. E na medida em que a sua mobilidade geográfica é muito reduzida – os que entram no ensino superior só podem – e quando podem – frequentar universidades “locais” – o mais comum é que se mantenham no mesmo contexto geográfico ao longo de toda a sua vida, interagindo frequentemente com os membros da família e com uma forte tendência para “mergulharem” em redes sociais densamente estruturadas. Assim, e ao contrário do que acontece com as classes média e alta, estas realidades materiais promovem, na maioria das vezes, práticas de socialização que encorajam as crianças a reconhecer “o seu lugar” na hierarquia social, a seguir as regras e as normas estabelecidas e a estarem atentos às necessidades dos outros. Daí os “alertas” de “não é possível ter tudo o que queres” e “o mundo não gira à volta do teu umbigo”.
Adicionalmente, em resposta a estes contextos caracterizados por estas mesmas realidades materiais e sociais, os indivíduos pertencentes à denominada “classe trabalhadora” têm de se ajustar aos outros e aos contextos sociais vigentes, serem “duros” e fortes e confiar nos que lhes são mais próximos (família e amigos) em caso de necessidade. Com o tempo, estas formas “obrigam” ao desenvolvimento de um sentimento de “self ” que é interdependente dos demais e que se deve ajustar às diferentes situações. Ou em suma, este modelo de interdependência, não só do self mas do conceito de “competência” assume que os indivíduos se devam adequar ao contexto social, mostrar deferência para com as autoridades, confiar no apoio dos outros e constituir “parte do grupo”.

Como podem as universidades e as empresas contribuir para minimizar este desajustamento?
As “marcas” do desajustamento social não se dissipam nem na universidade nem no local de trabalho. Esta é a principal conclusão dos vários estudos sobre a temática da “mobilidade social”, fruto de um inadaptação cultural entre pessoas pertencentes a diferentes classes.
Complementarmente, são as próprias instituições que, inadvertidamente, podem contribuir negativamente para esta “perpetuação” das desigualdades, estejamos a falar de universidades ou de empresas, tanto no que respeita aos resultados académicos como à própria performance no local de trabalho. Para Stephens, a desadequação entre o ideal de independência que marca, normalmente, a cultura destas instituições e as normas de interdependência comuns aos indivíduos provenientes das classes sociais baixas podem efectivamente reduzir a suas oportunidades de sucesso.
No mundo académico superior, por exemplo, os estudantes cujos pais têm baixos níveis de escolaridade e que querem ajudar a família e “dar de volta” à comunidade que os viu crescer sentem enormes dificuldades ao se confrontarem com universidades que privilegiam o “traçar do seu próprio caminho” e a exploração das paixões pessoais. Numa série de experiências realizadas, concluiu-se que o simples facto de recordar aos estudantes em causa a cultura independente vivida nas universidades era suficiente para aumentar os seus níveis de stress, reduzir o seu sentimento de pertença ou adequação e diminuir a performance nas tarefas académicas.
[quote_center]Os mentores, tanto nas universidades como nas empresas, podem ser treinados para melhor compreender as necessidades dos estudantes e trabalhadores originários das classes mais desfavorecidas e fornecer-lhes um feedback estruturado e necessário para uma melhor adaptação[/quote_center]
Num outro estudo realizado pela investigadora, foram muitos os jovens entrevistados que, depois de terem terminado o seu percurso académico e já mesmo com alguns anos de actividade profissional, reportaram uma ausência de pertença social e de capital cultural comparativamente aos seus pares.
Todavia, e de acordo com a investigadora da Kellog School of Management, a boa notícia é que este “fosso” em termos de experiência e performance não tem de ser estático. No seu artigo de Harvard, Stephens alerta que, por exemplo, as universidades que conferem especial importância à interdependência traduzem-se em locais muito mais “amigos” dos estudantes provenientes de meios mais vulneráveis. E existem algumas estratégias que tanto instituições académicas como empresas podem levar a cabo para diminuir este sentimento de desenquadramento e ajudar estudantes e profissionais de meios desprivilegiados a realizarem o seu máximo potencial.
A primeira diz respeito ao reconhecimento de uma simples realidade que nem toda a gente gosta de admitir: o facto de a “classe social”importar realmente. Apesar de algumas universidades já terem reconhecido a dificuldade de adaptação dos alunos mais economicamente fragilizados, a questão da “classe de origem” é ignorada na maioria das empresas, mesmo quando estas devotam especial atenção às questões da diversidade racial e de género. É que, e na verdade, este é também um problema de “diversidade”. E reconhecê-lo é um passo importante para maximizar o potencial dos indivíduos em causa e ajudá-los a não sentirem essa diferença ou desigualdade como um obstáculo à sua ascensão na carreira profissional. Stephens sugere que, tal como as organizações desenham programas de mentoring para mulheres ou minorias raciais, poderão fazer o mesmo com este segmento de trabalhadores.
Uma outra estratégia sugerida pela investigadora é proporcionar a estas pessoas oportunidades para desenvolver o seu “self” complementarmente às “interdependências” que já dominam. Tanto as universidades como os locais de trabalho podem oferecer sessões de formação específicas nas quais os estudantes e os trabalhadores podem aprender e praticar os comportamentos de independência esperados, como a auto-afirmação, o demonstrar da autoconfiança e o exercício de influência. Adicionalmente, escreve, os mentores, tanto nas universidades como nas empresas, podem ser igualmente treinados para melhor compreender as necessidades dos estudantes e trabalhadores originários das classes mais desfavorecidas e fornecer-lhes um feedback estruturado e necessário para uma melhor adaptação.
Por último, ambas as instituições em causa devem também saber beneficiar das forças de interdependência comuns a este segmento. Como refere, apesar de ser comummente reconhecido que competências como a capacidade de trabalhar em conjunto e o ajustamento à maneira de ser e de trabalhar dos outros podem beneficiar a performance organizacional, a verdade é que estas competências são normalmente pouco valorizadas. E se o discurso da valorização da colaboração é tão proferido, melhor seria se as empresas realmente integrassem o valor da interdependência nas suas práticas e políticas diárias e como critério de avaliação – para a contratação ou promoção – em conjunto com incentivos de performance.
Em suma, numa sociedade que se orgulha em democratizar a educação, a desigualdade continua a imperar.
Editora Executiva

































